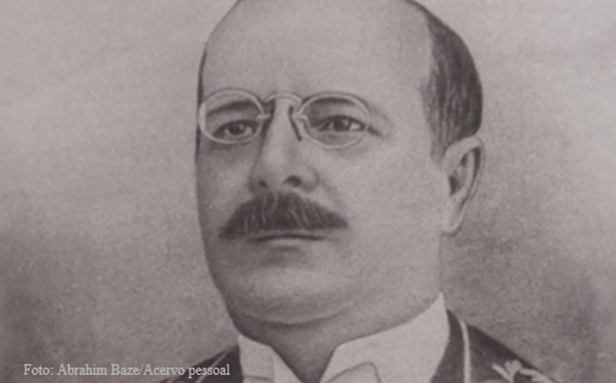Paróquia do Santo Rosário
Desde quando o governo do Marquês de Pombal manifestou-se desinteressado em manter os jesuítas trabalhando na Amazônia, na década de 1750, a vida espiritual na região passou a viver dias angustiosos. Para o governo, os regulares eram comerciantes e não missionários. A situação pioraria com a notícia levada a Lisboa acusando os jesuítas de “[…] estarem a despojar as igrejas das aldeias e demais estabelecimentos que mantinham no interior, de imagens, alfaias e outros objetos do culto”. Sentindo-se ofendidos, os jesuítas se negaram a continuar missionando. A crise tanto cresceu que, em 1759, eles seriam expulsos da Amazônia.
Para dirigir os povoados, criados à luz da Lei do Diretório, Mendonça Furtado designou funcionários civis. E para cuidar da formação espiritual das vilas criadas, o bispo Frei Miguel de Bulhões instituiu as paróquias. (Lembremos que a transformação dos aldeamentos missionários indígenas em vilas e paróquias seculares – processo de secularização das missões –, decretada entre os anos de 1755 e 1758, e a expulsão dos jesuítas da Amazônia, resultaram de medidas reformistas do governo do primeiro-ministro Marquês de Pombal). Porém, face à insignificância do número de sacerdotes seculares na região, as dificuldades para preencher as vagas de vigário não foram sem conta. Convidados, os prelados de ordens se negaram: não se sujeitariam ao bispo Bulhões.
Portanto, não havia clero para as freguesias. O Seminário de Belém, mantido por ordem régia, não produzia efeitos como era esperado. Para amenizar a situação da capital do Estado, em agosto de 1758 trouxeram de Lisboa dez frades da Congregação de Santo Antônio. A recém-criada Capitania de São José do Rio Negro, no Alto Amazonas, onde fora instalada uma Vigararia-Geral, confiada ao padre José Monteiro de Noronha, ficaria vários anos sem padres.
Simultaneamente à inauguração da Vila, em 1º de janeiro de 1759 foi instalada a Paróquia, e, ambas, receberam o mesmo título: Nossa Senhora do Rosário. Na legislação que estabelece a simbologia associada às freguesias portuguesas, surgem menções aos oragos dessas freguesias. Este fato tem dois significados: o religioso, de estender a proteção do Santo ou Santa protetor(a) para além do templo, a toda a freguesia; e é um arcaísmo que reflete nos dias atuais as origens antigas das cidades. Dessarte, padres e agentes do governo português concordaram em consignar na Ata o título: Vila de Nossa Senhora do Rosário de Serpa.
Talvez não tinha trinta dias antes da instalação da Vila e os comunitários se juntaram para construir a pequena capela em madeira e palha, de chão batido e ‘mobiliada’ com bancos rústicos de madeira e balcão improvisando um altar. Era o que se podia fazer naqueles tempos difíceis. Os comunitários agiam na base da coragem e do entusiasmo. Contrastando com o ambiente acanhado, sem afetação, ali foi colocada a imagem relicária de Nossa Senhora.
Muitas imagens portuguesas vieram para a Amazônia, trazidas pelos missionários com a intenção de catequizar os nativos. A imagem de Nossa Senhora do Rosário, destinada a servir como Padroeira da futura Itacoatiara, teve um condutor especial: Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Antes mesmo de assumir o governo da Amazônia, ele decidiu nomear a vila com o nome de Serpa e o fez em homenagem à freguesia homônima encravada na região do Alentejo, donde seus ascendentes eram originários. O orago oficial da freguesia portuguesa de Serpa é Santa Maria, festejada anualmente a 1º de janeiro – dia escolhido pelo governador Mendonça Furtado para instalar a Serpa amazônica.
Nessa escultura o barroco da primeira metade do século XVIII evidenciou o espiritualismo e, mais que tudo, a perfeição estética das imagens em madeira policromada oriundas de Portugal. A imagem da Virgem do Rosário mede sessenta e seis centímetros de altura e quarenta e três de largura. Apresenta-se sobre um pedestal e desperta atenção por suas feições europeias: estatura ligeiramente inferior à média, rosto arredondado, pele branca, cabelos ondulados escuros e olhos castanhos. Carrega em seu braço esquerdo o Menino Jesus e segura, na mão direita, o Rosário ou Terço. Suas vestes possuem panejamentos ondulantes com ornamentos dourados. O pequeno Jesus mantém sobre a palma da mão esquerda uma bola representando o globo terrestre. Coroas cobertas de metal prateado enfeitam a cabeça de ambos.
A Contrarreforma Católica deu uma atenção redobrada à imaginária sacra, seguindo antiga tradição que afirmava que as imagens de santos, pintadas ou esculpidas, eram intermediárias para a comunicação dos homens com as esferas espirituais. As imagens deveriam cumprir com o quesito de serem instrutivas e moralmente exemplares para os fiéis, buscando persuadi-los. Nos séculos XVII e XVIII, a estratégia dos jesuítas para converter os gentios era repassar preceitos necessários à afirmação do Catolicismo, por meio do ensino da música, teatro e ofícios manuais. Através das imagens, as barreiras linguísticas e conceituais eram aliviadas. Ao mesmo tempo, os primeiros missionários acreditavam que, por meio dessas práticas se dava o melhor método para ‘amansar’ o selvagem.
Além do Culto a Jesus, o Catolicismo incentiva o Culto à Virgem Maria e aos santos. A Igreja sempre venerou Maria como sua Mãe, e há uma razão lógica: ela é a Mãe de Jesus, Cabeça da Igreja. As primeiras imagens que ilustraram os altares da antiga missão itinerante que originou a nossa cidade foram produção regional, oriunda das oficinas do Grão-Pará e Maranhão, porém, a imagem da Santa Padroeira, que aqui se venera há 263 anos, é de matriz portuguesa.
Nos anos iniciais da Ordem dos jesuítas na Amazônia as esculturas vinham principalmente de Portugal, por meio de doação de fiéis ou sob a forma de encomendas à Coroa portuguesa. A produção de artigos escultóricos em São Luís e Belém se iniciaria somente após a instalação das aldeias de catequese, em meados do século XVII. As bases desse trabalho têm origem nas oficinas jesuíticas instaladas nas referidas cidades, e foram elas que ditaram os modelos de confecção e influenciaram a produção de imagens de santos mesmo após a saída da Ordem da região.
A Companhia de Jesus procurou aproveitar todos os recursos, tanto de materiais quanto de mão-de-obra, para a confecção das imagens sacras. A produção das oficinas do Estado do Grão Pará e Maranhão se favorecia pela abundância de madeira e tabatinga. A importação de obras foi aos poucos cedendo lugar à produção regional, à medida que a Ordem dos jesuítas trazia ao Estado artífices de diversos países da Europa, ditando assim o sistema de confecção de pintura e escultura montado para dar conta dos ornamentos para as igrejas da Amazônia.
De acordo com o padre João Daniel, o cedro vermelho (cedrela odorata) era madeira abundante e largamente utilizada pelos escultores. Em meados do século XVII teve início à coleta e exportação de madeiras colhidas à borda da costa marítima da Amazônia maranhense, no trecho localizado nas proximidades do rio Moju. O envio desse material para o Reino ganhou grande impulso a partir da criação, em 1755, da Companhia Geral de Comércio, com monopólio de compra e transporte de escravos africanos e com a responsabilidade de expansão mercantil dos produtos tropicais. Ressalte-se que a madeira embarcada para Portugal não era somente enviada em estado bruto, ou seja, em toras, mas também beneficiada aqui mesmo na Colônia.
O acervo dos colégios de Nossa Senhora da Luz (São Luís) e Santo Alexandre (Belém) é composto, principalmente, por peças dos séculos XVII e XVIII, na sua maioria em madeira; outras obras estão abrigadas em igrejas e capelas no interior dos estados do Pará e Maranhão. Em relação às missões de catequese do atual Estado do Amazonas, nada restou do acervo existente, à época: até as imagens da aldeia itinerante que deu origem à Itacoatiara, desapareceram.
Vinculada à Diocese do Grão-Pará, também conhecida por Bispado de Belém, a Paróquia de Serpa, nos primeiros tempos, passou por momentos críticos. A Diocese, em face de responder por uma extensíssima jurisdição, defrontava-se com um número deficiente de elementos para cobrir as atividades religiosas do Estado inteiro. O retraimento desses serviços, que era uma consequência da expulsão dos jesuítas, trouxe prejuízos inclusive à Paróquia de Serpa, a qual, durante um certo período, sofreria com a falta de cura fixo.
A carência de sacerdotes era, em parte, suprida pelo vigáriogeral da Capitania, que, quando possível, vinha desobrigar os fiéis da Vila paroquial. Comumente recorria-se aos vigários “encomendados”, porque, durante um largo período, nas paróquias só atuavam párocos “colados”. Os “encomendados” eram padres chamados a exercer provisoriamente o seu mister; sustentavam-se cobrando taxas da população pelos serviços religiosos prestados, enquanto os “colados” eram nomeados em caráter permanente, não podiam ser removidos a não ser por vontade própria e eram incluídos na folha de pagamento estatal recebendo um salário chamado côngrua.
Desde 1769, um sino de bronze em tamanho médio, instalado em uma torre sineira fincada em uma das laterais do pequeno templo, batia as horas e chamava os fiéis à Missa. A novidade viera de Portugal, enviada pelo então ministro da Marinha e Ultramar, Mendonça Furtado – era o “Sino de Serpa” e, segundo a crônica colonial, até chegar ao seu destino daria muito o que falar: havia se perdido nos escaninhos da burocracia colonial.
Em 1772 o governo português mandou criar o Estado do GrãoPará e Rio Negro, a partir da cisão do Estado do Grão-Pará e Maranhão. A outra unidade criada foi o Estado do Maranhão e Piauí. No ano seguinte o vigário-geral José Monteiro de Noronha, é transferido para Belém e em seu lugar assume frei Francisco de Nazaré. Em 21 de setembro de 1774, o ouvidor e intendente-geral da Capitania Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, em cumprimento às Ordenações do Reino, desembarca na Vila de Serpa, em viagem de inspeção, e marca eleições municipais para a segunda oitava de Natal – 10 de janeiro do ano seguinte.
O ouvidor-geral passou dois dias em Serpa. Teve boa impressão do lugar “[…] cuja praça vistosa forma um paralelograma, a igreja e as casas do pároco e do encarregado do povoado acham-se em bom estado, mas as casas dos moradores estão sem cobertura, cadeia não há e o seu diretor Manoel Teixeira é negligente e descuidado”. A população local algarismava-se em 366 habitantes: 285 índios (142 mulheres e 143 homens), 59 brancos e 22 escravos. Dez anos depois, segundo Antônio Ladislau Baena, seriam 1.200 habitantes.
Com o falecimento de dom Frei Miguel de Bulhões, em 30 de setembro 1778, assume a Diocese de Belém dom frei Caetano Brandão (1740-1805), o qual, em maio de 1787, visita a Paróquia de Serpa, sendo recepcionado pelo diretor da Vila Antônio Vieira Corrêa da Maia. Na subida do rio dom Caetano achou a Capela de Serpa “[…] em estado miserável, estava em osso, negra e toda esburacada, e determinou a sua imediata reparação. Na volta, encontrou-a caiada e já com diferente aspecto”.
À medida do passar do tempo, quando se esperava substanciais melhorias à Vila de Serpa, eis que em 1791 a pequenina igreja foi devorada por um misterioso incêndio – sendo a imagem da Padroeira milagrosamente salva. Seria, quatro anos depois, reconstruída pelo governador Manoel da Gama Lobo d’Almada (c.1735-1799). Ainda que um prédio pequeno e malfeito, avarandado (media 11 metros de frente por 8,5 metros de fundo), construído de taipa de mão, sendo uma parte coberta de palha e outra, de telha, seu aspecto não guardava relação alguma com a acanhada igreja de madeira e palha de antes.
Cognominado por Arthur Reis de “[…] o maior administrador do Amazonas no período colonial” – Lobo d’Almada assumira a direção da Capitania do Rio Negro em 9 de fevereiro de 1788. Segundo o novo governador, Barcelos – por estar longe das vilas e povoados amazonenses e especialmente do poder decisório em Belém – não podia permanecer como capital; por isso, decidiu transferir a sede do governo para o Lugar da Barra (atual cidade de Manaus). A partir da nova capital, Lobo d’Almada, “[…] em visão de estadista”, revolucionou a administração e, por isso, passou a ser perseguido pelo governador do Grão-Pará, Francisco de Sousa Coutinho (1764-1823).
Esclarece ainda o grande historiador Arthur Reis,
“[…] Sem ser vila, o Lugar da Barra disputava às que existiam, a Barcelos principalmente, as honrarias de que gozavam em virtude da situação política. A sua população cresceu. A da Capitania também. Lobo d’Almada levantava o rio Negro do abatimento em que vivia. Por toda a parte se lhe notava a energia construtora […]. Tudo se desenvolvia. Sentia-se confiança no amanhã radioso que surgia com a obra maravilhosa realizada. […] E cresceu tanto a fama do grande administrador, fomentando a velha inveja e a desconfiança do governador do Grão-Pará. […] O último golpe veio da carta régia de 2 de agosto de 1798, para transladar a capital da Capitania a Barcelos. […] No ano seguinte Barcelos voltou à sua velha condição. […] Lobo d’Almada não resistiu às contrariedades […], faleceu a 27 de outubro de 1799”.
Em 1796, por imposição da Junta de Justiça do Grão-Pará, a Câmara Municipal de Serpa passou a ser presidida por juízes-de-fora, nomeados diretamente por Lisboa. Saía, assim, das mãos dos nativos aculturados o exercício do voto e da vereança, passando esse direito aos representantes da classe proprietária – os chamados “homens bons”.
* Capítulo Decimo Primeiro do livro As Pedras do Rosario do Autor.
Obs. Este artigo teve suprimidas suas notas. A quem interessar a leitura do texto original, completo, pode acessar o link a seguir. https://www.franciscogomesdasilva.com.br/obras-literarias/
Views: 28