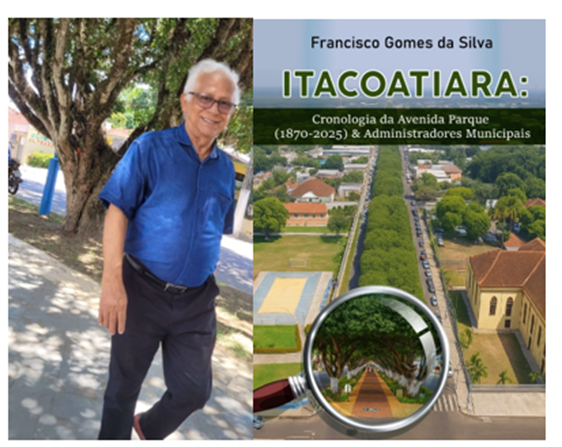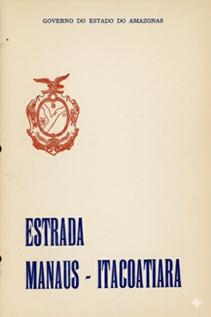*Vinícius Alves da Rosa
Um estudo da comunidade do barranco de são benedito, em Manaus, e do sagrado coração de jesus do lago do Serpa, em Itacoatiara – Am
Agradecimentos
A conclusão desta tese não teria sido possível sem a colaboração dos quilombolas da Comunidade do Barranco de São Benedito, em Manaus, e do Sagrado Coração de Jesus, do Lago do Serpa, em Itacoatiara – AM, que dividiram comigo suas histórias, memórias e narrativas, aos quais eu sou imensamente grato.
À minha orientadora Professora Clarissa de Franco, por aceitar me orientar, por toda ajuda demonstrada ao longo do desenvolvimento da pesquisa, por seu exemplo de competência e ética, pela sensibilidade na escuta.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, por terem contribuído com a minha formação acadêmica.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), pelo apoio financeiro concedido para realização deste trabalho.
Aos professores que aceitaram ser membros da banca de defesa, Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida, Dra. Rosângela Siqueira da Silva, Dra. Ênio José da Costa Brito e Dr. Lauri Emilio Wirth.
Ao quilombola Ernando Soares de Macedo, exímio conhecedor da Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, obrigado pelas narrativas e memórias informadas. Gratidão pelas acolhidas na sua residência!
Ao quilombola e Professor Claudemilson Nonato Santos de Oliveira, obrigado pela partilha de conhecimentos a respeito do território quilombola do Lago do Serpa.
Ao quilombola Raimundo João Rolin Leal, pelo respeito demonstrado e colaborações concedidas para o desenvolvimento da pesquisa.
À Mestra e quilombola Rafaela Fonseca da Silva, amiga e companheira de pesquisa.
Ao quilombola Sebastião Gonçalves de Melo (Sabá) e sua família, que compartilharam comigo as suas narrativas.
À antropóloga Maria Magela Mafra de Andrade Ranciaro, pelas contribuições fundamentais para a conclusão deste trabalho.
À professora Samara de Oliveira Magalhães, pelas colaborações dedicadas para o desenvolvimento do trabalho.
À historiadora Johmara Assis dos Santos, pela ajuda na organização do meu trabalho.
Ao Dr. Francisco Gomes da Silva, nobre pesquisador, Itacoatiarense.
Ao quilombola Valcimar Negreiros, por me conduzir nas visitas e pelas águas do Lago do Serpa.
À Comunidade quilombola de Morro Alto, RS, minha comunidade de origem.
Aos meus avós, in memorian, André Floriano da Rosa, Maria Noêmia Alves da Rosa, Ataliba Ernesto Alves, Sempliciana Mesquita Alves.
À minha mãe Maria Dolça Alves da Rosa, e ao meu pai, in memorian, Aristeu Alves da Rosa.
Aos meus irmãos Fernanda, José Fernando, Mariana e Patrick.
Aos meus maiores amores, André Braga Alves e Marliesi Salgado de Lima.
RESUMO
ROSA, Vinícius Alves da. Religiosidade popular nos quilombos urbanos e rurais da Amazônia: um estudo da comunidade do Barranco de São Benedito, em Manaus, e do Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara – Am. 2024. 252 p. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) – Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo, 2024.
O trabalho científico, doravante sistematizado, é um esforço acadêmico empreendido ao longo de quatro anos no âmbito das Ciências da Religião, o qual propõe investigar os fenômenos religiosos presentes nos cotidianos dos quilombos urbanos do Barranco de São Benedito, em Manaus, e no quilombo rural Sagrado Coração de Jesus, do Lago do Serpa, em Itacoatiara-AM, ambos territorializados na Amazônia brasileira. Os marcos teóricos conceituam as categorias analíticas “religiosidade popular”, “quilombo” e “identidade étnica”, a etnografia será o método utilizado, com vistas a pesquisar as características e especificidades das respectivas comunidades étnicas quilombolas, selecionadas para o presente estudo.
Palavras-chave: Religiosidade popular; Quilombo; Identidade Étnica; Comunidade étnica quilombola; Amazônia; Patrimônio de reparação.
INTRODUÇÃO
Este trabalho enseja contribuir no espaço acadêmico, especificamente no campo das Ciências da Religião, a partir da Amazônia como lócus de produção científica, considerando, assim, as distintas territorialidades, a natureza, o ritmo ditado pelas águas nessa região, a riqueza da cultura material e imaterial das comunidades quilombolas em contextos urbanos e rurais, que constroem através da religiosidade suas conexões com o sagrado, possibilitando o surgimento de ritos, cultos, liturgias, devoções aos santos padroeiros e festas populares.
A pesquisa investiga a religião como objeto central. Busca conhecer quais elementos religiosos constituem-se na cotidianidade das comunidades étnicas quilombolas, analisa os vínculos estabelecidos entre os quilombos tradicionalmente ocupados, para compreender formas organizativas, estratégias de resistências, os conflitos enfrentados nas lutas estabelecidas pelo movimento político autodesignado quilombola, que permitiram identificar os seus mitos fundantes nas realidades concretas dos grupos selecionados para este estudo.
A escrita acadêmica, por vezes, é um ato solitário, pois exige a disciplina constante, vigilância epistêmica, além do distanciamento das fronteiras limitantes pessoais do autor, consoante ao necessário exercício da reflexividade no âmbito teórico e prático pela dinâmica estabelecida do sujeito em relação ao objeto.
Sobre as comunidades de remanescentes quilombolas, as motivações para estudá-las iniciaram da identificação pessoal, mediante afinidades identitárias e culturais. Trata-se das relações de parentesco constituídas com membros da comunidade quilombola Morro Alto1, localizada no litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. As relações de parentesco em Morro Alto são por parte da família paterna do autor deste trabalho. Nesta comunidade, morava seu bisavô, Bras Floriano da Rosa, que era Inspetor de Polícia, e fora alfabetizado com mais de oitenta anos de idade no antigo programa de alfabetização de jovens e adultos, uma iniciativa do Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL2.
O avô, André Floriano da Rosa, era agricultor, e a exemplo do bisavô, ambos foram proprietários de engenho de cana de açúcar em Morro Alto. Por manterem vínculos afetivos com o território ocupado, os membros da família por parte de pai ainda hoje são moradores desta referida comunidade quilombola.
Em relação à família materna, o avô Ataliba Ernesto Alves, nasceu em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, morador do bairro Aldeia dos Anjos, e pertencia a uma família de negros; já a minha avó, Sempliciana Mesquita Alves, era natural de Terra de Areia, município do litoral norte gaúcho. A avó Sempliciana foi alfabetizada pelo MOBRAL, e as memórias da família materna estão relacionadas às atividades agrícolas ligadas ao campesinato, desenvolvidas pelos avós em suas pequenas propriedades rurais, onde criavam cavalos, gado e plantavam pequenas roças para a subsistência familiar.
As referências familiares ajudaram a me constituir enquanto ser no mundo. A consanguinidade, os laços de ascendência, a pertença étnica de relações construídas em uma unidade familiar constituída por pessoas negras e interações sociais estabelecidas com o entorno envolvente na região Sul do Brasil. Além disso, como professor do componente curricular Ensino Religioso desde 2005, na Secretaria Municipal de Educação na cidade de Manaus, e, mesmo com a criação da Lei Nº 10.639/03, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira” nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, das redes públicas e particulares do país, faz-se premente a necessidade de dar visibilidade à luta dos/as negros/as face aos espaços da sociedade como um todo.
Ademais, convém reconhecer a importância do povo negro na construção da identidade nacional; fato que leva a crer se tratar de extrema relevância explicitar as contribuições da negritude nas áreas social, cultural, econômica e política na história do Brasil. Tais questões imprimem decisões inadiáveis no tocante ao desenvolvimento de ações relacionadas à produção de conhecimentos, cujo desempenho resulte em uma educação pautada na visibilidade e no respeito às diferenças de grupos sociais distintos, dentre os quais figuram as comunidades quilombolas.
Cabe destacar que no âmbito acadêmico registram-se estudos sobre a presença dos negros na Amazônia, como o clássico de autoria de Vicente Salles (1971), no Amazonas. O cenário de invisibilidade começou a ser mudado após o lançamento da obra O fim do silêncio: presença negra na Amazônia3 (2011), marco na historiografia regional, pois culminou na publicação de artigos que estavam sendo produzidos principalmente na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), ajudando a dar visibilidade às comunidades negras e afrodescendentes no Estado.
Como afirma a organizadora do livro supracitado, a historiadora Patrícia Melo Sampaio:
É difícil saber quando e como temas importantes para a compreensão dos nossos dilemas do tempo presente caem no esquecimento; o tema da escravidão africana e da presença negra na Amazônia é um dos mais impressionantes. Vivemos em um país marcado por um longevo passado/presente escravista e isso deixou marcas severas; algumas parecem mesmo indeléveis. Entender a forma pela qual a escravidão se estabeleceu no Brasil e, principalmente, as formas pelas quais ela se enraizou nas nossas instituições, no modo, de pensar e de viver dos brasileiros, é um tema tido como fundamental nos mais diferentes campos acadêmicos: economia, sociologia, antropologia, direito, além da história (Sampaio, 2011, p. 8).
O livro está na segunda edição cujas produções científicas possibilitam refletir a partir das diferentes áreas do conhecimento, para compreender a presença dos/as negros/as na Amazônia mediante relações de pesquisas construídas na região, com enfoque nos aspectos da cultura, identidade, e trajetórias de distintos grupos étnicos em territórios historicamente ocupados.
A historiografia local dedicou pouca atenção aos estudos do período escravista dos negros no Amazonas. Os escritores, bem como os comentadores regionais, defendiam a tese de que a presença negra teria sido inexpressiva, e, portanto, a literatura oficial colaborou com o silenciamento e invisibilidades das memórias e mobilizações do povo afrodescendente.
No caso específico da Amazônia, convém ainda desconstruir a tese da inexpressividade dos negros na região, tornando-se necessário preencher as lacunas, bem como evidenciar a presença das comunidades remanescentes de quilombos que habitam partes consideráveis da região norte do país. Debrucei-me sobre tais reflexões, enquanto discente no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo-UMESP, em agosto de 2020, com as etapas realizadas em ambiente virtual, em razão do quadro de Pandemia, sendo Manaus, a capital do Amazonas, uma cidade bastante atingida pela “nova cepa do coronavírus6”.
Estas páginas nasceram nesse contexto que ficará registrado na história contemporânea como um dos fatos marcantes da primeira metade do século XXI. A omissão do Estado em relação às comunidades étnicas quilombolas pode ser compreendida a partir da leitura da obra do escritor africano Achille Mbembe, nascido em Camarões. Sobre a “necropolítica”, em seu ensaio, afirma o autor:
[…] pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder (Mbembe, 2018, p. 1).
Alinhado ao horizonte conceitual de Michel Foucault, para quem biopoder significa dominar as vidas manifestando a soberania máxima de quem possui o controle, em diferentes casos concretos, pode ser exercido o direito de matar, deixar viver ou expor à morte. A noção de biopoder é a forma contemporânea em que os políticos no exercício do poder detêm o direito de assassinar por meio da máquina estatal.
A considerar o quantitativo de mortos no Brasil em decorrência da Covid-19, que ultrapassou setecentas mil pessoas, pela demora para comprar as vacinas, a ideologia anticientífica do Governo Federal multiplicou os óbitos que poderiam ser evitados. Como no caso da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, em janeiro de 2021, fato amplamente divulgado pelos veículos de imprensa. A eleição do Presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2018, representou um grave retrocesso para as políticas públicas das comunidades tradicionais, por tratar-se de um Governo declaradamente contrário às diversidades e minorias étnicas.
Assim, instituições como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Fundação Cultural Palmares, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ), Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR), tiveram suas pautas de reivindicações ignoradas. Houve aumento de mortes de indígenas, quilombolas, violências cometidas com as pessoas de orientação sexual diferenciada, crimes contra os religiosos das sacralidades de matrizes africanas, apoiados pelos discursos oficiais de ódio e intolerância promovidos pelo Estado brasileiro.
A partir desse cenário desfavorável, com os direitos constitucionais negados, devido a não observância dos dispositivos legais, consoante o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e o Decreto 4887/2003, a tese fora construída, no recorte temporal de um Governo totalitário, financiado pelo segmento do agronegócio, aliado à exploração ilegal das empresas mineradoras em terras indígenas e quilombolas, com as forças autoritárias do capitalismo, frente às lutas das comunidades por conquistas de direitos territoriais assegurados.
Particularmente, o autor deste trabalho foi acometido do vírus da Covid-19, e hospitalizado durante seis dias em uma unidade hospitalar da rede privada em Manaus, sendo necessário o acompanhamento dia a dia dos profissionais da saúde para a recuperação. Isto, infelizmente, não ocorreu com alguns dos meus colegas de trabalho e/ou amigos que vieram a óbito, vítimas do sistema de saúde pública em colapso.
A propósito, para dar continuidade às atividades assumidas com o Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, e para cumprir o cronograma pessoal de estudos, em paralelo com as disciplinas cursadas ao longo dos semestres, fez-se necessário a busca do equilíbrio emocional, com vistas à recuperação da saúde mental para, assim, conseguir, satisfatoriamente, obter bom desempenho acadêmico.
É preciso considerar que os três primeiros semestres estudados ocorreram concomitante com as atividades de trabalho desenvolvidas em home office, devido ao vínculo empregatício do autor com a Secretaria Municipal de Educação em Manaus. Como dissera Umberto Eco, na obra Como se Faz uma tese: “Pode-se preparar uma tese digna mesmo que se esteja numa situação difícil”. E ainda acrescentou:
[…] para recuperar o sentido positivo e progressivo do estudo, entendido não como uma coleta de noções, mas como elaboração crítica de uma experiência, aquisição de uma capacidade (útil para o futuro) de identificar os problemas, encará-los com método e expô-los segundo certas técnicas de comunicação (Eco, 2018, p.14).
Esta tarefa epistemológica nos conecta com a humanidade, situando-nos na condição de imanência, dadas as circunstâncias da conjuntura sanitária internacional. Neste sentido, o pesquisador deve estar consciente das suas limitações e finitude, ainda que, em condições emocionais de fragilidade, conseguir colocar a emoção no âmbito racional, para construir com rigor científico a confecção da tese.
As ideias preliminares para a escrita acadêmica, com o intuito de aprofundar as análises referentes aos fenômenos religiosos praticados na comunidade do Barranco de São Benedito, em Manaus, e na comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em Itacoatiara/AM, e a escolha para pesquisar o quilombo do Barranco de São Benedito em Manaus, ocorreu devido à facilidade de acessar a comunidade, situada na área central da capital amazonense, aliado ao desafio de conhecer a história de um quilombo inserido no contexto urbano da Amazônia.
O fato de a exiguidade do tempo não ter permitido durante o período do mestrado realizar estudos avançados relacionados à religiosidade de terreiro, às visagens relatadas pelos quilombolas da comunidade urbana em Manaus. Portanto, buscou-se elaborar análises comparadas entre o quilombo urbano e o rural.
Na estrutura da dissertação produzida ao longo de dois anos, entre 2016 e 2018, dedicou-se uma seção específica descrevendo a etnografia da festa de São Benedito, cujo evento compreende sequencialmente: a retirada do mastro, a realização das novenas, o levantamento do mastro, a procissão, a missa festiva, a derrubada do mastro e o encerramento do festejo no chamado ritual do “arranca toco”.
Ao executar a pesquisa no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, algumas vezes ouvia dos quilombolas que os membros da comunidade convertidos à fé evangélica não participavam mais das reuniões culturais e religiosas, pois a nova religião professada ensina ser pecado a devoção aos santos, assim como os eventos da comunidade em geral são considerados profanos.
Um caso curioso ocorreu com a neta da coordenadora da festa realizada em devoção a São Benedito, que se tornou membro de uma igreja evangélica, mas, após o falecimento da avó, retirou objetos religiosos, como: alguidar, oferendas, assentamentos consagrados para cultuar e cuidar de uma divindade e os jogou em uma cachoeira da cidade. Alguns familiares ainda teriam tentado localizar os objetos considerados sagrados. Todavia, não conseguiram resgatá-los.
Os quilombolas afirmam que os motivos desta pessoa da comunidade, agora convertida à fé evangélica, ter jogado tais objetos na cachoeira ocorreu por orientação do pastor da igreja a qual estava frequentando. A comunidade considera a atitude tomada pelo quilombola como caso de intolerância religiosa.
O caso referido é uma das questões a serem investigadas nesta tese, elaborada em face do avanço pentecostal e neopentecostal sobre as devoções católicas romanizadas e populares, e também sobre os cultos afro-brasileiros, seja por um vigoroso processo de evangelização que se vale das ações de evangelizadores e concurso midiático, até em rede nacional, ou, em alguns casos, sobrevém formas militarizadas e violentas de ações, culminando com ataques a templos de comunidades de terreiros.
A escolha para pesquisar a comunidade Quilombola Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em Itacoatiara, deve-se ao desafio de investigar um território étnico em contexto rural, inserido em meio a conflitos com diferentes agentes sociais, sendo eles: quilombolas, fazendeiros, empresários, representantes políticos. O referido quilombo é rico em narrativas do imaginário popular, mítico-religioso, que expressam os modos de vida das comunidades amazônidas e seus moradores.
A primeira incursão no território da Comunidade Quilombola Sagrado Coração de Jesus, do Lago de Serpa, no município de Itacoatiara/AM, se deu em 28 de fevereiro de 2018, juntamente com a professora Dra. Maria Magela Mafra de Andrade Ranciaro, docente da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Naquele momento, dedicava-me aos estudos e à escrita da dissertação, com vistas a conclusão do curso de mestrado. Tal visita foi solicitada pelos quilombolas, junto ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia-PNCSA6, onde colaboro e desenvolvo atividades de pesquisas acadêmicas.
A viagem de Manaus a Itacoatiara ensejava dirimir as dúvidas sobre a realização de uma Oficina de Mapas e do curso de GPS (Sistema de Posicionamento Global) a ser realizado na comunidade, dada a importância e discernimento de técnicas elementares para capacitação dos agentes sociais. A propósito, essa luta dos quilombolas centrava-se em reivindicações perante o INCRA e Ministério Público Federal – MPF quanto à titulação definitiva do território quilombola.
Os contatos posteriores com os quilombolas de Itacoatiara foram em 23/02/2018, em virtude de uma reunião realizada em Manaus, no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, no bairro Praça 14 de Janeiro. Posteriormente, tais contatos se deram durante as atividades da Oficina Fortalecimento Institucional e Coletivo, organizada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ, realizada em Manaus, no período de 06 e 07 de julho de 2019.
Na comunidade rural em Itacoatiara não há, segundo as narrativas dos quilombolas, a sacralidade de matrizes africanas, mas há relatos do aparecimento de animais (tapiraiauara), “onça d’água”, da cor preta, com orelhas grandes e patas de cavalo. Davam conta de que as onças atacavam as pessoas, assim, as casas eram construídas com certa altura para evitar os ataques. Segundo afirmou o Sr. Raimundo João Rolin Leal, Secretário da Associação Comunitária Quilombola do Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em sua residência, durante a minha visita na comunidade, em 19 de agosto de 2020.
O quilombola assegurou que durante a sua infância tais relatos sobre a aparição da “tapiraiauara” eram contados por sua avó Antônia Rolin, uma mulher negra, e pelo bisavô Martinho Leal. O que reforça nas comunidades de remanescentes quilombolas o conhecimento repassado por meio da oralidade. Na ocasião da visita foi possível conversar com o Sr. Ernando Soares Macedo, presidente da Associação Comunitária Quilombola do Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, a respeito da devoção religiosa a Nossa Senhora Aparecida, quando o quilombola relatou uma versão sobre o aparecimento da Santa.
De acordo com seu Ernando Soares, a imagem da santa negra católica, fora encontrada boiando no Lago do Serpa em 1976, localizado no entorno da localidade, pelo Sr. Benedito Aragão, morador da comunidade já falecido. Posteriormente, a imagem foi levada para uma residência e, desde então, os moradores passaram a realizar uma procissão fluvial no lago de Serpa em devoção a referida santa. Atualmente, há uma igreja católica construída nas proximidades do quilombo, chamada Sagrado Coração de Jesus, na qual tem um altar onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O festejo fluvial é um ritual de afirmação religiosa e faz parte da territorialidade dos quilombolas que ocupam tradicionalmente o lugar.
Cabe salientar que nas adjacências do quilombo rural há um templo da igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM), que é a maior denominação evangélica do Estado do Amazonas, outro templo da igreja Assembleia de Deus Tradicional, e mais uma igreja adventista. Alguns quilombolas são membros destas igrejas evangélicas da localidade. Fato a respeito do qual esta pesquisa se propõe a investigar sobre quais são as interações sociais construídas entre as denominações eclesiásticas citadas no que tange à cultura e às tradições da comunidade quilombola.
Vale destacar que as informações obtidas acerca da religiosidade presente no cotidiano dos quilombolas foram detectadas, já no primeiro contato com a comunidade rural em 2018, nas posteriores visitas realizadas no território quilombola em 2020, 2023 e 2024. Outros dados analíticos com o devido detalhamento foram construídos ao longo da pesquisa de campo desenvolvida junto à comunidade.
As fontes de pesquisa sobre a Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em Itacoatiara, além da literatura bibliográfica disponível, são os próprios agentes sociais quilombolas com os quais mantenho contatos permanentes, seja através de telefone ou comunicação pelo Whatsapp, como o Sr. Raimundo João Rolin Leal, Secretário da Associação Comunitária Quilombola. Fez-se necessário considerar acerca deste recurso técnico, ou seja, a utilização do Whatsapp, tornou-se potencializado em face do quadro de pandemia e dos decretos de lockdown.
Um interlocutor importante é o professor e quilombola, morador da área urbana em Itacoatiara, doutor pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia – PPGSCA, pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Sr. Claudemilson Nonato Santos de Oliveira, com quem dialogamos frequentemente sobre os desafios da pesquisa no quilombo. Destacamos as ações do referido professor, na condição de agente intelectual e articulador político das demandas e reivindicações da comunidade quilombola rural no município de Itacoatiara.
Quanto à comunidade do Barranco de São Benedito, ela está localizada na cidade de Manaus, mais especificamente no tradicional bairro Praça 14 de janeiro, zona Centro-Sul da cidade. O referido território quilombola foi ocupado desde a vinda da Dona Lúcia Nascimento Fonseca (Vovó Severa), há 134 anos, como escrava alforriada procedente do município de Alcântara, no Maranhão.
A partir de seu estabelecimento, e de sua família, nesse espaço, Dona Severa trouxe consigo costumes e tradições de seus antepassados que hoje permanecem vivos na memória e nas narrativas de seus descendentes, oficialmente reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, desde 2014, uma comunidade de remanescentes quilombolas autodenominada urbana.
Desta feita, estabeleceu-se como objetivo deste trabalho: compreender a religiosidade popular em suas perspectivas conceituais teóricas e práticas nas formas cotidianas de organização das comunidades remanescentes do quilombo urbano do Barranco de São Benedito em Manaus e do rural Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara- AM.
Ao longo da pesquisa, mediante as narrativas coletadas junto aos quilombos urbanos e rural permitiram identificar o seguinte problema: as situações conflituosas, tanto do ponto de vista dos marcadores simbólicos da religiosidade popular quanto das lutas por direitos étnicos, lançaram-me o desafio quanto à construção de uma análise epistêmica acerca dessas vivências objetivamente materializadas no cotidiano dos quilombos do Barranco de São Benedito em Manaus e do Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa – Itacoatiara/ AM.
Nesse sentido, com base em pesquisas anteriores desenvolvidas identificam-se os fenômenos religiosos nos quilombos urbanos e rurais, e fundamenta-se necessariamente de um arcabouço teórico, articulando-o junto às narrativas que advém do cotidiano quilombola. Quanto ao diálogo com os autores da literatura especializada, ambos, em consonância, por certo permitirão superar desafios ou complexidades que possam eventualmente surgir no decorrer da pesquisa. Nesta perspectiva, os estudos realizados na área das humanidades, no tocante aos remanescentes quilombolas, buscam refletir criticamente em torno dos objetos investigados, com pressupostos científicos, a partir das diferentes realidades sociais.
Para proceder ao trabalho de campo e coletar os dados sobre as comunidades étnicas, fez-se necessário estabelecer uma “relação de pesquisa”, como afirma Bourdieu (1997). Por meio da análise das organizações sociais, o que implicou na convivência com os quilombolas e demais lideranças que articulam as estratégias político-organizativas, além de construir elos para interagir, dialogar, ouvir e receber informações relacionadas às trajetórias históricas das comunidades.
A categoria designada quilombo, a partir dos autores especializados, com estudos realizados no Brasil, em especial na Amazônia, trata-se de uma discussão contemporânea através da qual pretendeu-se refletir sobre as produções epistemológicos referentes às comunidades étnicas e organizações coletivas denominadas quilombolas.
Almeida (2011) ressalta a importância da pesquisa de campo, contrapondo-se ao monopólio da fala, inferindo que formação acadêmica não há engessamento interpretativo que legitime somente uma ou outra fala, não havendo, para o autor, quem detenha o poder de imposição da “definição legítima” de determinas narrativas. Ou seja, implica compreender que, para além da interdisciplinaridade, que congrega historiadores, juristas, sociólogos, arqueólogos, geógrafos, agrônomos e antropólogos há um plano de conhecimentos aplicados e imediatos, diretamente vinculados a processos de mobilização político-administrativos. E assevera:
Em verdade tem-se uma situação de liminaridade entre as disciplinas militantes, ameaçadas de aprisionamento pelas formas dos manuais e pela força dos dogmas, e o conhecimento científico, produzido meio aos obstáculos ora estendidos às atividades das pesquisas sistemáticas e às etnografias apoiadas em prolongados trabalhos de campo. Sob este prisma quilombo pode ser entendido hoje consoante com diferentes planos, ou seja, tanto pode ser um tema e um problema da ordem do dia do campo de poder, quanto um conceito, objeto da pesquisa científica; tanto pode ser uma categoria jurídica e uma questão de direito, quanto um instrumento através do qual se organiza a expressão político-organizativa (Almeida, 2011, p. 48).
Tendo por base o conceito de quilombo, adotado por Almeida, no tocante a concebê-lo como de expressão político-organizativa, ao considerar os diferentes processos de territorialidade específicas, o trabalho foi investigado com o viés antropológico. Especialmente as comunidades do Barranco de São Benedito em Manaus e Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa em Itacoatiara, por serem localidades de pertencimentos coletivos. E, portanto, organizadas no Amazonas, desde o século XIX, cujas implicações religiosas atravessam temporalidades sucessivas.
Para a produção da tese, realizou-se a leitura dos seguintes trabalhos: “Quilombo, favela e periferia: a longa busca da cidadania”, das autoras Lourdes de Fátima Bezerra Carril & Iraci Gomes de Vasconcelos Palheta (2003), “Teorias da etnicidade”. Seguido de grupos étnicos e suas Fronteiras de Fredrik Barth de autoria de Philippe Poutignat & Jocelyne Streiff – Fenart (1998), a pesquisa do antropólogo Emmanuel de Almeida Farias Júnior (2013), a respeito da comunidade quilombola do Tambor, na cidade de Novo Airão-AM, a tese de Maria Magela Mafra de Andrade Ranciaro (2016) sobre as comunidades quilombolas do rio Andirá, no município de Barreirinha-AM; a tese de autoria de João Siqueira (2014) sobre o quilombo do Tambor, em Novo Airão-AM; a tese do historiador João Marinho da Rocha (2019) sobre as comunidade quilombolas do rio Andirá, em Barreirinha-AM; e a tese de Claudemilson Nonato Santos de Oliveira (2019) sobre a temática religiosa em Itacoatiara. Para além dessas fontes, buscou-se subsídios teóricos em outros autores que estudam a categoria quilombo, como Almeida (2011), Rosa Acevedo e Edna Castro (1998), Eliane Cantarino O’dwyer (2002) e Ilka Boaventura Leite (2000), para melhor compreender os aspectos das realidades investigadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa.
Nesse contexto, o viés do binômio “religiosidade popular” interligou o caminho em que concentrou nossa base investigativa do fenômeno religioso, para, assim, compreender a dinâmica social como fonte de construção de identidade no quilombo urbano do Barranco de São Benedito em Manaus e do quilombo rural Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em Itacoatiara-AM. Siqueira (2010), sobre as práticas celebrativas no circuito da religiosidade popular da região amazônica, ressalta que ao mesmo tempo em que a expressão e veiculação de práticas celebrativas reforçam a construção de identidade sustentada pela força da tradição de um povo; esse os reelaboram sob a limitação das condições dadas, formando assim sua consciência individual e coletiva.
No que concerne a categoria identidade, Manuel Castells chama-nos a atenção entendendo-a como:
[…] o processo de construção de significados com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na autorrepresentação quanto na ação social. […] A importância relativa desses papéis e ato de influenciar o comportamento das pessoas depende de negociações, acordos entre os indivíduos e essas instituições e organizações. Identidade por sua vez, constitui fontes de significado para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de individuações (Castells, 1996, p. 22-23).
Para este estudo, Stuart Hall (2005, p. 47) também nos auxilia com contribuições significativas para o debate que envolve cultura e identidade. Em sua obra “A identidade cultural na Pós-Modernidade”, discute: “como as identidades culturais nacionais estão sendo afetadas ou deslocadas pelo processo de globalização? Para responder a essa questão, o autor enfatiza:
[…] o que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da globalização sobre a identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os sistemas de representação. […]. Diferentes épocas culturais têm diferentes formas de combinar essas coordenadas espaço-tempo […]. Assim, a moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e representadas (Hall, 2005, p. 70-71).
Espaço e tempo estão entre os aspectos mais importantes para compreender a sociedade contemporânea, os quais tem efeito sobre a cultura, identidade e representação social. O autor supracitado enfatiza que na chamada modernidade tardia vive-se processos descontínuos, o que ocasiona uma crise de identidade. Desse modo, a leitura de Stuart Hall é pertinente, uma vez que pontua as descontinuidades da sociedade moderna e as diferentes posições dos indivíduos na modernidade tardia.
Por este viés, apoiado em Clifford Geertz (1989), representante da antropologia interpretativa, tais estudos certamente permitirão entender a dimensão das identidades étnicas no quilombo urbano em Manaus e no quilombo rural em Itacoatiara. Nessa esteira, a reflexão se pautará em conhecer os agentes sociais neles presentes, suas representações expressas no cotidiano de territórios tradicionalmente ocupados.
A aproximação com a obra de Geertz, A interpretação das Culturas, possibilita interpretar o mundo social pela observação das experiências construídas pelos sujeitos, e identificar a estrutura das relações em diferentes contextos. Partindo desse raciocínio, as relações sociais são uma teia de significados tecidas pelo homem. Trata-se de um sistema de símbolos, definidores do que é a cultura, logo, a cultura se expressa como um conjunto de valores, crenças, costumes, entre outros, os quais orientam a existência humana (Geertz, 1989).
Neste trabalho, buscar-se compreender as trajetórias, as memórias sociais a partir da análise dos grupos étnicos, que, segundo Fredrik Barth, “é uma categoria atributiva e identificadora empregada pelos próprios atores; consequentemente tem como característica organizar as interações entre as pessoas” (Barth, 2000, p. 27).
Barth elabora algumas reflexões no que tange aos problemas referentes à construção de fronteiras entre os grupos étnicos. O autor contribuiu fundamentalmente com as pesquisas relativas à etnicidade, assim como também considerou as discussões de grande importância para a antropologia social.
No debate sobre os grupos étnicos e as suas identidades, enquanto categoria analítica, Barth enfatiza que:
Tentamos relacionar outras características dos grupos étnicos – a essa característica básica […] todos os trabalhos apresentados assumem na análise um ponto de vista gerativo: em vez de trabalharmos com uma tipologia de formas de grupos e de relações étnicas, tentamos explorar os diferentes processos que parecem estar envolvidos na geração e manutenção dos grupos étnicos (…) para observarmos esses processos deslocamos o foco da investigação da constituição interna e da história de cada grupo para as fronteiras étnicas e a sua manutenção. Cada um desses pontos requer certa elaboração (Barth, 2000, p. 27).
Segundo o pesquisador, já está superada a concepção do isolamento social e geográfico das comunidades tradicionais no sentido de determinarem a manutenção das culturas. Para o autor, as fronteiras étnicas permanecem, apesar do fluxo que as pessoas atravessam, ou seja, as distinções entre categorias étnicas independem da ausência de mobilidade. Faz-se necessário nos pontos de vista do estudioso, um ataque simultâneo teórico e empírico, que permita investigar com certa veracidade os fatos, a fim de adequar nossos conceitos a esses fatos, ao elucidá-los de maneira simples, e, por conseguinte, o mais pertinente possível.
A pesquisa sobre os grupos societários requer investigar o conjunto das práticas (sociais, econômicas, políticas, religiosas etc.), pelo fato de uma coletividade às vezes estar relacionada com processos complexos, constituídos historicamente por construções identitárias que as distinguem de outros grupos. A identidade cultural é a condição de imanência dos indivíduos, cuja ênfase não está na herança biológica, por não ser um fator determinante para identificar os grupos sociais, mas a herança da cultura é primordial para a vinculação ao grupo étnico, e fundamental para todas as vinculações socioculturais.
Para Barth os grupos étnicos têm tipos organizacionais, passam a ser vistos como formas de organizações sociais, pela autoatribuição, e a atribuição por outros, ou seja, a atribuição de uma categoria torna-se condição étnica ao classificar uma pessoa com relação a sua identidade, relacionada presumivelmente por sua origem. As categorias étnicas e seus processos organizativos têm diferentes formas e conteúdos, nos diversos sistemas socioculturais. Isto permite identificar um grupo atributivo e exclusivo, em que há a dicotomização entre os seus membros e não membros, ou outro onde apenas os fatores socialmente relevantes determinam o pertencimento, mas não as diferenças geradas a partir de outros fatores como, por exemplo, os biológicos.
Deste modo, os processos organizativos das comunidades quilombolas são o que definem os grupos étnicos cujas práticas amparadas nos conhecimentos tradicionais, que, ressignificados, os identificam ao ressaltar as identidades coletivas, a partir das expressões culturais, artísticas e religiosas, presentes no dia a dia das comunidades. Nessa contextualização, no propósito de construir conhecimentos científicos, com ênfase nas dimensões socioculturais do fenômeno religioso, tendo como local epistêmico o lugar das vivências do Outro, a fim de compreender a diversidade de crenças existentes nos ambientes simbólicos das comunidades quilombolas.
O antropólogo Eduardo Galvão (1955) em sua tese de doutoramento: “Santos e visagens: um estudo da vida religiosa de Itá, Amazonas”, analisou, do ponto de vista antropológico, as questões da diversidade religiosa e cultural presentes na Amazônia, onde constatou práticas do catolicismo popular, bem como o culto aos santos. O trabalho de Eduardo Galvão é importante dada à pertinência com que o autor estudou a religiosidade daqueles moradores, por vezes, dominados pelas crenças em seres sobrenaturais. Assim, o pesquisador apresentou a composição étnica e os resultados dos processos coloniais a respeito dos quais derivou um modelo cultural.
Além das fontes referidas, foram realizadas ainda as leituras das seguintes pesquisas: “Algumas reminiscências e reflexões sobre o trabalho de campo”, de Evans – Pritchard (1978), “Mocambos na Amazônia: História e identidade étnico-racial do Arari – Parintins/Amazonas, de Jessica Dayse Matos Gomes (2017), “Religião, e medicina popular na Amazônia: a etnografia de um romance’’, de Raymundo Heraldo Maués (2007), “Nas pegadas de um Santo Negro: a expressão feminina nos festejos de São Benedito na Praça Quatorze de Janeiro em Manaus, Amazonas”, de autoria de Karla Patrícia Palmeira Frota (2018) e a “Construção identitária da comunidade do Barranco: Festa de São Benedito”, cuja autora é Lúcia Maria Barbosa Lira (2018).
Nesta perspectiva, o trabalho propôs pesquisar a respeito das crenças, devoções e religiosidades nos territórios quilombolas, com um enfoque conceitual, em especial, na Amazônia, para, através da observação direta e sistemática, perceber, identificar e analisar as características sociais e culturais das comunidades do Barranco de São Benedito em Manaus e Sagrado Coração de Jesus em Itacoatiara-AM.
Assim sendo, a pesquisa dialoga com os autores mencionados para – ancorada teoricamente no diálogo com autores a respeito desses temas – perceber na convivência com a alteridade no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, em Manaus, e no quilombo rural Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em Itacoatiara-AM, quais são as influências e seus desdobramentos concernentes aos impactos contemporâneos face às crenças, devoções e religiosidades em relação à cultura e à identidade étnica dos quilombolas nas referidas comunidades inseridas na região Amazônica.
O estudo proposto ao Curso de Doutorado em Ciências da Religião está ligado à área de concentração: Religião, Sociedade e Cultura, e foi desenvolvido no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, em Manaus, e no quilombo rural Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, em Itacoatiara, ambos territorializados no Estado do Amazonas.
Quanto aos procedimentos metodológicos para execução desta pesquisa, entendidos como os instrumentos necessários à abordagem das realidades, uma vez que o trabalho buscou analisar empiricamente as duas unidades quilombolas, é de base descritiva e analítica. Portanto, suportes essenciais para a sustentação da observação direta e sistemática, realizada no período de 2020 a 2023.
Ancorada nessa perspectiva, os quilombos constituem-se como objeto da pesquisa de campo, tendo por base o método qualitativo de investigação científica em função da própria natureza do objeto em questão, buscando, assim, investigar elementos do cotidiano implícitos num universo de significados. Os sujeitos da pesquisa serão identificados ao longo do contato com o campo, estabelecendo-se um percentual de participantes conforme demandar o universo de moradores dos dois quilombos investigados, bem como as funções e/ou representatividades de lideranças, entre outros aspectos.
Este tipo de pesquisa fornece processos a partir dos quais questões-chave são identificadas, e perguntas serão formuladas para descobrir dados importantes acerca de questão anteriormente formuladas e dos objetivos que perpassam a construção do presente trabalho.
Na análise qualitativa foram utilizados mecanismos interpretativos, com informações arquivísticas sobre dados históricos, preservando-se suas relações e significados expressos nas narrativas do coletivo quilombola. Os recursos técnicos disponíveis para esse tipo de análise foram: entrevistas feitas por via da observação direta e sistemática; aplicação de questionários temáticos, contendo perguntas abertas e fechadas; e, para as interpretações de outras formas de expressões, foram realizados registros fonográficos e fotográficos, autorizados oficialmente pelos interlocutores.
Por meio dessas técnicas, foi possível receber e obter informações a respeito dos modos de vida dos moradores, de suas atividades econômicas, dos conhecimentos tradicionais que estes grupos sustentam e/ou preservam; de suas festas religiosas, extensivas às suas representações e significados de seus processos históricos.
Paro o alcance dos objetivos da pesquisa de campo, no propósito de coletar as narrativas do cotidiano quilombola, a etnografia tornou-se uma ferramenta metodológica, através da qual o ato de investigar permitiu capturar realidades concretas com vistas ao procedimento sistemático e analítico do levantamento de dados sobre as características e especificidades do quilombo urbano e do quilombo rural.
A pesquisa de campo e a etnografia ajudaram a alcançar os resultados de uma pesquisa qualitativa, as quais foram adotadas durante a realização do trabalho. Através da pesquisa etnográfica é possível obter um levantamento geral e descritivo das comunidades, identificando as características e especificidades. A etnografia fez-se necessária uma vez que os dados sistematizados ganharam sentido e deram visibilidade interpretativa às impressões percebidas em campo.
Segundo Clifford Geertz (2002), a etnografia e a pesquisa de campo fazem parte do processo em que se formam novos conhecimentos, ideias e críticas, possibilitando conhecer as diferenças e as realidades entre diferentes culturas. Deste modo, para este estudioso, o estar lá é a pesquisa de campo e o estar aqui é a etnografia. Para a construção de novos conhecimentos, o pesquisador precisa ir à campo para observar, escrever, interpretar, criticar e coletar dados concretos e verdadeiros que fizeram parte de sua experiência pessoal.
Oliveira (1998) destaca o método formado pelas “faculdades do conhecimento”, o olhar, o ouvir e o escrever que consistem em garantir o melhor uso possível dos dados observados. O olhar visa observar tudo o que está ao redor; o ouvir é a compreensão do que foi observado; o escrever é a configuração final do produto do trabalho. Tais “faculdades do conhecimento” são completares e possuem uma significação específica para o pesquisador. Segundo este estudioso, o olhar e o ouvir seriam partes da primeira etapa e o escrever seria a segunda parte da pesquisa.
Conquanto, neste estudo, em primeiro lugar se realizou as pesquisas in loco, e se fez do lugar social também um lugar de produção epistemológica. A segunda etapa da pesquisa teve como fonte primária as narrativas orais dos agentes sociais, obtidas durante a observação participante e pelas entrevistas semiestruturadas. Posteriormente a isso, providências foram tomadas quanto à transcrição das entrevistas e, consequentemente, feita a análise dos dados coletados, cuja interpretação dos fatos foi acionada com base nas leituras bibliográficas de autores relacionados aos temas em questão.
Em síntese, é de suma importância primar pelo rigor metodológico do fazer científico ao longo da construção do trabalho. Portanto, fundamentar teoricamente as discussões, estendendo-se a pesquisa às leituras de artigos, dissertações e teses de autores cujas ideias apresentem as situações, características de distintas territorialidades, fornecendo subsídios com vistas a compreensão das religiosidades presentes no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, em Manaus, e no quilombo rural Sagrado Coração de Jesus, em Itacoatiara-AM.
Para a realização desta pesquisa foram entrevistadas 11 pessoas, cujas narrativas ofereceram o subsídio principal para esta pesquisa. A estrutura do trabalho é composto por quatro capítulos, dos quais o primeiro disserta sobre “Dois quilombos e a respectiva formação histórica: Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito – Manaus/AM e Quilombo Rural Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa – m Itacoatiara/AM”, com vistas à descrição da formação histórica, o “mito de origem”, as dinâmicas sociais para entender como se deram os processos de construção das identidades étnicas e, com isso, observar a territorialidade que permitiu a organização das comunidades quilombolas em Manaus e Itacoatiara. Enfocando os quilombos do Amazonas e suas mobilizações político-organizativas, tanto dos chamados quilombos urbanos, abrigados na cidade, como dos quilombos em contextos rurais, pois assim, singrando os rios e as trilhas percorridas para conhecer os quilombolas da Amazônia brasileira.
O segundo capítulo “A religiosidade popular: uma categoria analítica”, versa sobre a religiosidade popular e, compreendendo-a como categoria analítica, estabelece diálogo com autores especializados neste campo de discussão. Assim entendido, as discussões se voltam para as diferentes tradições vividas por agentes sociais com representação religiosa nos quilombos. Nota-se que tais práticas fogem às regras administrativas e, por isso mesmo, ultrapassam aqueles habituais controles eclesiásticos da religião oficial. Neste sentido, aborda-se a religiosidade com ênfase nas reflexões críticas acerca das narrativas dos distintos agentes sociais em suas diversas vertentes simbolicamente presentes na vida cotidiana a se expressar por via das crenças, das linguagens, enfim, das sacralidades. Por vezes, legitimadas pelo imaginário popular.
O terceiro capítulo, “Aspectos político-econômicos da religiosidade nos quilombos, urbano e rural do amazonas”, intenciona refletir pelo viés acadêmico na dimensão teórica e prática, com vistas a arrazoada compreensão dos aspectos político-econômicos da religiosidade, concebendo-a como eixo articulador das subjetividades e sentimentos de pertença nos territórios quilombolas, em espaço urbano e rural, no Estado do Amazonas, não meramente como elemento isolado, mas ladeado por interesses, disputas ou relações de poder construídas nas esferas do convívio social. Tais expressões de fé, publicamente assumidas e encarnadas na vivência popular, estão presentes nas raízes do tecido da vida comunitária, notadamente por meio de lutas coletivas enfrentadas perante distintos antagonistas das unidades quilombolas.
E o quarto capítulo “Etnografando os quilombos rural e urbano: a vida religiosa e outros aspectos do cotidiano”, descreve as narrativas de acordo com as pesquisas de campo, analisadas etnograficamente sob a ótica da religiosidade vivida e os aspectos do cotidiano rural e urbano, cabe referir a respeito desse capítulo da tese estruturada que os dados sistematizados foram construídos consoante as observações, estudos e convivências realizadas com a devida reflexividade acadêmica a partir das incursões constituídas dos trabalhos desenvolvidos, conectados aos territórios quilombolas específicos localizados em Itacoatiara – AM, e Manaus, respectivamente.
_______________________
De acordo com as informações contidas na Certidão de Autorreconhecimento expedida pela Fundação Cultural Palmares, citada por (Barcellos, 2004, p. 484), a Comunidade Negra de Morro Alto está localizada no município de Maquiné no litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente constituída por aproximadamente 230 famílias, que receberam oficialmente a Certidão de Autorreconhecimento como Comunidade Remanescente de Quilombo, em 2004.
2 O MOBRAL foi um movimento educativo o qual propiciou a alfabetização de adultos e, posteriormente, de jovens no Brasil, a partir das décadas de 1960 e 1970.
3 Não significa que antes não houve trabalhos e publicações sobre a temática, mas dentro dos padrões da historiografia contemporânea brasileira, o livro se caracteriza um divisor de águas entre uma historiografia clássica e uma historiografia profissional.
4 A segunda edição do livro O Fim do Silêncio: presença negra na Amazônia, organizado pela historiadora Patricia Alves Melo, foi lançada em 2021.
5 O termo “remanescente” é apresentado no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição de 1988, de acordo com (Almeida, 2011, p. 43) para chegar à ideia de quilombo, como “resíduo”, de uma forma que “já foi”. Todavia, a expressão remanescente será utilizada algumas vezes nesse trabalho como referência aos quilombolas, por ser um dispositivo político e identitário acionado pelo próprio movimento quilombola.
6 A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a “nova cepa do corona vírus da Covid-19” como um problema sanitário de preocupação internacional, pois certamente ainda continua sendo estudado pela comunidade científica devido a sua letalidade.
7 O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) tem como objetivo dar ensejo à auto cartografia dos povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Com o material produzido, tem-se não apenas um maior conhecimento sobre o processo de ocupação dessa região, mas sobretudo uma maior ênfase e um novo instrumento para o fortalecimento dos movimentos sociais que nela existem. Tais movimentos sociais consistem em manifestações de identidades coletivas, referidas a situações sociais peculiares e territorializadas. Estas territorialidades específicas, construídas socialmente pelos diversos agentes sociais, é que suportam as identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais. Tais informações estão disponíveis In: Lima, Rosiane Pereira. “Preservação digital e “divulgação” científica na Amazônia”. Manaus: UFAM /Dissertação, 2017. Disponível em: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6049. Acesso em: 06 out. 2022.
Continua na próxima edição…
*Vinícius Alves da Rosa é Quilombola do Morro Alto/RS, mestre, professor e tgeologo, tem sua formação acadêmica pautada em uma sólida jornada de conhecimento. Sua expertise é ampliada por especializações em Metodologia do Ensino de Filosofia, em Ciências da Religião. Complementou sua trajetória com um Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação e, por fim, obteve seu título de Doutor em Ciências da Religião pela (UMESP).
Views: 9