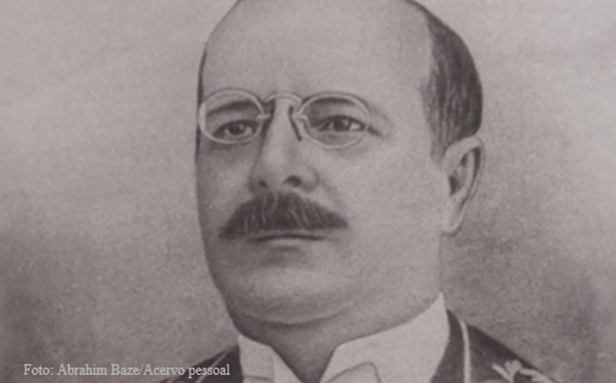Durante a fase áurea do látex, milhares de imigrantes portugueses, atraídos pela fortuna conquistada por meio do trabalho, foram pioneiros na organização do sistema mercantilista de intercâmbio na região.
Os imigrantes portugueses tiveram importante função na modelagem da sociedade e da economia amazônica, tanto nas cidades quanto no interior. Naturalmente, como classe política dominante e com o surgimento das atividades agrícolas e florestais extrativistas, tornaram-se agentes decisivos suprindo essas atividades de liderança empresariais necessárias, como produtores, mercadores exportadores e comerciantes, alcançando posição oligopolista, que se manteve do ápice da atividade socioeconômica baseada na borracha até o advento de novas correntes e grupos culturais mais dinâmicos e inovadores.
Durante a fase áurea do látex do século XIX e na primeira década do século XX, milhares de imigrantes lusos, atraídos pela fortuna conquistada por meio do trabalho, foram pioneiros na organização do sistema mercantilista de intercâmbio, cuja, maior atuação era representada pelo comércio típico das casas aviadoras. As firmas portuguesas estabelecidas em Manaus e Belém, transformaram essas cidades em entrepostos comerciais e, por algumas décadas, estabeleceram as linhas lógicas de suprimento rio acima de mercadorias a base de crédito pessoal, com os seringalistas recebendo, em contrapartida, rio abaixo, mediante compra e venda, os gêneros e produtos extrativistas destinados a exportação.
Esse período histórico da economia amazônica, como bem escreveu o professor emérito Samuel Benchimol, denominou a Era dos Jotas, em decorrência da preferência dessa letra nas iniciais das firmas pertencentes a portugueses de então como por exemplo: J. G. Araújo, J. S. Amorim, J. A. Leite, J. Soares, J. Rufino e tantos outros.

Foto: Reprodução/Domínio público
Nesse período de crise e depressão nas décadas dos anos 20, 30 e 40 substituíram os antigos exportadores anglo saxões e germânicos que emigraram para os seus países de origem passando a dominar como aviadores e exportadores, nas capitais e no interior do Amazonas, com os descendentes dos imigrantes judeus marroquinos e sírio-libaneses.
As estatísticas do Censo de 1920 contaram a existência no Estado do Amazonas, 8.376 portugueses, sendo 6.103 homens e 2.273 mulheres e, no estado do Pará havia 15.631 portugueses, sendo 12.382 homens e 3.249 mulheres o que muito contribuiu no processo de integração e miscigenação a partir do casamento com mulheres nativas.
Eram os portugueses o maior número do grupo de estrangeiros, com um total de 24.007 pessoas estrangeiras para um total de 39.019 estrangeiros recenseados no ano de 1920, ou seja, os portugueses representavam 5.61% da população amazônica, dos quais 445.356 em Belém e 249.746 em Manaus.
Considerando somente a população urbana, 236.402 habitantes em Belém e, 75.704 em Manaus, os 24.0007 portugueses da época que na sua maioria residiam nessas duas cidades representavam 13,0% da população urbana dessa duas metropólis do látex.
Na sua grande maioria os imigrantes portugueses provinham da região dos minifúndios do médio e do norte de Portugal. Deixaram suas aldeias, freguesias, quintas ao longo do rio Douro, Minho e Tejo: Vila Real, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo, Vila Nóvoa de Gaia, Porto, Caldas da Rainha, Guarda, Albergaria a Velha e Alcobaça e tantos outros pequenos lugarejos, vilas e concelhos (um termo usado em Portugal para designar uma subdivisão administrativa territorial e autárquica, equivalente ao município no Brasil) de onde se originaria a maioria dos portugueses que imigraram e se estabeleceram em Manaus e Belém.

Processo defumação da borracha. Foto: Domínio público
No Amazonas e Pará alguns desses nomes portugueses se tornaram muito familiares em nossa região, pois foram adotados por ocasião de fundação de vilas e cidades da Amazônia.
Os imigrantes portugueses na sua maioria eram jovens descendentes de famílias pobres, normalmente filhos de agricultores e proprietário de quintas e sítios, naturalmente de numerosa família patriarcal, com rígida educação doméstica e extremamente obediente a tradição, valores familiares devotos de santa ou santo padroeiro da comunidade em especial a Nossa Senhora de Fátima.
Portugal, no final do século passado enfrentava forte crise econômica. As terras agrícolas dos minifúndios, pertencentes a proprietários que possuíam famílias numerosas, sem terem como encaminhar seus filhos para a lavoura, uma vez que as parcelas de terras, como a subdivisão da herança, se tornaram tão pequenas que eram incapazes de sustentar uma família.
Uma das formas encontradas para sobreviver era buscar novos horizontes. O jeito encontrado fora imigrar para as colônias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Goa, Diu, Damão, Macau, remanescentes do antigo império. No limiar de suas juventudes, migravam para essas colônias e para o Brasil, Venezuela e Estados Unidos, em busca de trabalho e dias melhores.
As numerosas famílias que sobreviveram de uma agricultura quase de sobrevivência, cuidando das vinhas, das oliveiras, do azeite, da cortiça e de outros tantos produtos, incentivaram seus filhos a imigrar para o além-mar. Em muitas ocasiões eram trazidas por parentes próximos e até amigos da família que, no Brasil, haviam conseguido um pequeno negócio e procuraram pessoas de confiança para ajudar a administrar os negócios. Normalmente a fama de negócios eram: mercearias, padarias, açougues, bares, botequins, feira, quitandas, lojas e comércio em geral.

Imagem da fachada do armazém B. Levy & Cia que ficava na então Av. Eduardo Ribeiro com a Marechal Deodoro, no centro da cidade de Manaus. Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Amazonas de 1910. Edição: Courrier e Billiter. Foto: Reprodução/Instituto Durango Duarte
No decorrer do tempo esses parentes e amigos se tornaram sócios e parceiros no empreendimento comercial em que trabalhavam. Ou até se desligavam para formar novas parcerias ou começar os próprios negócios. Dessa forma começava sua ascensão socioeconômica.
No caso da Amazônia, além desses estabelecimentos varejistas, os portugueses dominavam as casas aviadoras e o comércio de látex e gênero regionais. Dessa forma propiciou a chegada de muitos imigrantes portugueses para aprender o ofício de caixeiros, balconistas, vendedores internos e externos, viajantes e prepostos dos patrões como pessoas de confiança.
Com o distanciamento das famílias que ficavam na origem, Portugal passava-se anos sem notícias dos seus descendentes, que quando conseguiam amealhar recursos visitavam a família em Portugal.
BASE, Abrahim. Luso Sporting Club – A Sociedade Portuguesa no Amazonas. Manaus. Editora Valer, 2007. Pág.: 13-16.
Views: 7