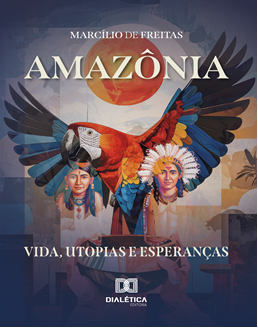*Carlos A. Nobre
Na década passada, a preservação da Floresta Amazônica foi referência de sustentabilidade. Em 2016, porém, o desmatamento disparou, o que compromete acordos do país com a ONU. O sentimento de impunidade, motivado pelo perdão a quem desmatou antes, incentiva novos cortes na Amazônia.
Há oito anos, o Brasil surpreendeu o mundo ao se dispor voluntariamente a reduzir a tendência de aumento de suas emissões de gases de efeito estufa. Uma política que sinalizou um claro comprometimento do país com o combate ao aquecimento global. O principal elemento dessa política de sustentabilidade seria uma acentuada redução dos desmatamentos da Floresta Amazônica, projetados para cair abaixo de 3900 quilômetros quadrados ao ano, até 2020. Uma meta, portanto, que estaria próxima da data na qual deveria ser cumprida. Noutras palavras, um objetivo que se revela cada vez mais urgente, diante das recentes notícias de que o aumento da temperatura do planeta se acelerou, com 2015 e 2016 registrando as mais altas temperaturas globais dos últimos dois séculos. Na contramão de suas promessas e de seus ditos objetivos, no entanto, o Brasil tem retrocedido.
Por quase uma década, a mais positiva notícia da área ambiental vinha da diminuição, ano a ano, de desmatamentos na Amazônia – a taxa anual caiu de hoje impensáveis 28000 quilômetros quadrados em 2004 para 4600 em 2012, uma redução de 83%. Nos últimos tempos, contudo, a tendência se inverteu. Descobrimos, agora, que em 2016 foi registrado quase o dobro de desmatamento de cinco anos atrás: um total de 8000 quilômetros quadrados. Se continuar assim, as metas sustentáveis assinadas pelo país, em compromisso firmado com a ONU, não serão mais viáveis.
Para compreendermos o problema, é preciso, em primeiro lugar, identificar as causas principais da redução dos desmatamentos após 2004. Um grande número de estudos científicos descartou o que se pensava, até dez anos atrás, ser a força principal da dinâmica dos desmatamentos: a variação dos preços das commoditíes agrícolas carne e soja e o aumento da demanda global por esses produtos. Em um assombro, a produção agropecuária da Amazônia cresceu ininterruptamente, enquanto os desmatamentos despencavam. Essas pesquisas também identificaram a implementação efetiva de políticas públicas de controle e redução de desflorestamento como o elemento indutor da queda. Considerando que a quase totalidade dos desmatamentos é ilegal, essa ação foi enérgica em atacar frontalmente a ilegalidade com intervenções do Ibama, da Polícia Federal e do Ministério Público. Foram efetivos a fiscalização e o desbaratamento do crime organizado, sobretudo de quadrilhas de extração ilegal de madeira e grilagem de terras públicas. A essa ação continuada de comando e controle, acrescentaram-se ainda iniciativas de restrição de créditos, subsídios a práticas sustentáveis, a criação de áreas de proteção e a regularização e a demarcação de terras indígenas. Por fim, ajudou a atuação de conscientização para o consumo responsável, o que alavancou acordos que levaram a iniciativa privada, a exemplo das grandes cadeias de frigoríficos e de supermercados, a promover projetos sustentáveis.
Dois fatores podem estar na raiz do recente aumento dos desmatamentos. Em primeiro lugar, comprovou-se uma relação direta de causa e efeito entre ações de fiscalização e desmatamento. As crescentes restrições orçamentárias dos governos federal e estaduais, devido à queda de arrecadação, interromperam ou atrasaram justamente essas ações de combate a ilegalidades. Num segundo ponto, outro fator pode ter contribuído para o aumento da destruição: as consequências de mudanças na legislação ambiental. O novo Código Florestal, aprovado em 2012, trouxe alguns aspectos positivos, como o Cadastro Ambiental Rural, que visa a monitorar a produção de fazendeiros. Mas, por outro lado, carregou nas tintas da desregulamentação e perdoou em grande parte os desmatamentos ilegais cometidos até 2008. O problema: isso sinaliza que, em algum momento do futuro, novos desmatamentos ilegais serão perdoados. Logo, os criminosos responsáveis por tal ato não têm medo de continuar com a devastação.
Da mesma forma, embora hoje 55% da Floresta Amazônica esteja sob algum tipo de proteção, recentes alterações nos limites de áreas protegidas na região também sinalizam o balanço desigual de forças entre interesses privados (agronegócio, mineração e obras de infraestrutura) e públicos. Além disso, muitas das unidades de conservação continuam não consolidadas e, por essa razão, são tidas como fragilmente implementadas.
Como dizia a geógrafa brasileira Bertha Becker (1930-2013), coexistem diferentes momentos de tempo-espaço na Amazônia. Enquanto em alguns lugares há iniciativas de intensificação da conservação, em outros sobrevive a mentalidade da grilagem e da violência rural. Diante de tal realidade, é possível explicar, por exemplo, a resistência de grandes proprietários de terra à divulgação de documentos básicos, como a certificação de origem de seus produtos. O temor deles é que, se for provado que, na realidade, não possuem certificação sustentável, os consumidores, conscientes, poderão evitar a compra de seus frutos gropecuários.
As áreas desmatadas na Amazônia brasileira já chegam a quase 800000 quilômetros quadrados. Estudos recentes mostram ser factível atender à demanda por produtos agrícolas sem desmatamentos adicionais – não apenas na Amazônia, como em todos os biomas brasileiros -, por meio de aumento de produtividade, em especial nas áreas de pastagem. Os desmatamentos ilegais devem ser duramente combatidos, sem tréguas, e a rede de áreas protegidas precisa de fortalecimento. Ainda que o quadro recessivo presente possa impor dificuldades de ações que dependem de orçamentos públicos, vivemos num momento único de nossa história em que a população aspira a que o Brasil adentre finalmente o rol de um Estado democrático de direito. Uma das consequências necessárias para tanto será a manutenção de nosso patrimônio natural, como a Floresta Amazônica, sem diminuir nosso potencial como grande produtor de alimentos.
Somente um conjunto de ações integradas, visando a áreas públicas e privadas, poderá controlar e, idealmente, zerar o desmatamento e a degradação na Amazônia. Um dos caminhos é investir em tecnologia. Ferramentas modernas de observação das alterações da vegetação, com o uso de sensores a bordo de satélites – desenvolvidos pioneiramente no Brasil, pelo Inpe – detectam quase em tempo real os desmatamentos ilegais. Isso tem sido fundamental para coibir e punir a, prática ilegal. É notável o avanço na nossa capacidade de observar a Terra remotamente. Artigo publicado na revista Science em janeiro, assinado pelo pesquisador americano Greg Asner, reporta o uso de uma nova tecnologia: com base em imagens a laser obtidas por aeronaves, discriminaram-se áreas de máxima biodiversidade na Amazônia peruana e nos Andes. Ambas as regiões são prioritárias para conservação. As informações, portanto, existem e são coletadas. Para reverter o cenário, agora desanimador, da Amazônia, basta o país não olhar para o outro lado.
*Professor e pesquisador. Matéria em parceria com a pesquisadora Ana Paula Dutra de Aguiar, na Revista Veja, Edição nº 2518 de 22/02/2017.
Views: 27