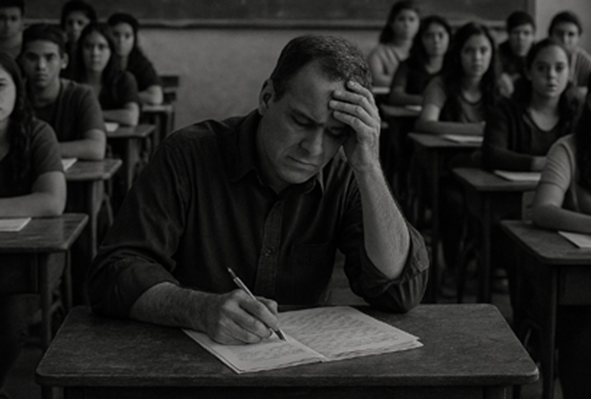A emoção na prosa
A poesia como construção no poema é uma forma de expressão praticada antes da prosa na literatura de todas as línguas, caso que confirma a ideia de que a primeira visão do homem sobre a realidade é emotiva, sensorial, fruto da sensibilidade, imitação no sentido assimilado em seus primórdios. O raciocínio e a prática da análise escrita vieram depois. Com a invasão colonizadora dos povos de cultura latina, em particular os espanhóis e portugueses, assumiu o império da literatura, no caso da Amazônia Brasileira, a poesia escrita em língua portuguesa, obediente aos cânones clássicos. Ficou bem definida a expressão da poesia e da prosa, sem que uma forma de pro cedimento se alastrasse no universo da outra.
Só na modernidade dos estudos da literatura, a poesia e a prosa passaram a ser tratadas em boa convivência num texto configurado com idêntica mancha gráfica, da prosa e do verso.
O poema em prosa chamou a atenção dos especialistas no Romantismo, período em que os poetas aspiravam por um sistema de maior liberdade formal. Foi consagrado mais tarde por simbolistas e surrealistas em três livros publicados na mesma época, Os cantos de Maldoror, do Conde de Lautréamont (1846-1870), em 1869; Uma temporada no Inferno, de Arthur Rimbaud (1854-1891) em 1873; e Charles Baudelaire (1821-1867), com Pequenos poemas em prosa, livro de publicação póstuma, em 1869.
Ao apresentar o livro, o próprio Baudelaire18 se pergunta:
Qual de nós, em seus dias de ambição, não sonhou com o milagre de uma prosa poética, musical sem ritmo e sem rima, bastante maleável e bastante rica de contrastes para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da consciência?
No Brasil é notável o poema em prosa em Raul Pompeia (1863-1895), no livro Canções sem metro, publicado em 1881.
Modernamente, ele é encontrado, entre outros autores, nos belos exemplos da abertura e encerramento de Anunciação e encontro de Mira-Celi, de Jorge de Lima, em 1943, e em pelo menos dois poemas de Tempo e eternidade, de Murilo Mendes (1901-1975), lançado em 1934.
Essas obras oferecem nova dimensão àquilo que vulgarmente se chama de poesia. Confirmam que o verso não é o elemento essencial do poema. Reeditam enfim as lições do filósofo19:
Não se chama de poeta alguém que expôs em versos um assunto de medicina ou de física! Entretanto, nada de comum existe entre Homero e Empédocles, salvo a presença do verso. Mais certo é chamar o primeiro de poeta e o segundo de fisiólogo.
A advertência do filósofo leva em conta o renome de Empédocles (490 a. C.), autor de versos voltados aos ele mentos da natureza e seu controle, os poderes miraculosos da ação nos domínios da medicina, a recuperação do vigor físico na velhice, a destruição do mal e as visões até sobre a capacidade humana de controlar as chuvas e os ventos. Os versos de Empédocles cuidam de ensinar sobre os temas abordados, numa função didática e mais próxima da magia. Lembremos a Dança da Chuva, como expressão mágica a provocar a catarse purificadora do corpo e do espírito e a alegria criadora, função primordial da poética.
A poesia, no entanto, tecnicamente pode germinar no verso ou na prosa, desde que comporte o conteúdo semântico da emoção estética, movida pelo contato do poeta com a realidade que o aflige ou eleva.
O verso, enfim, significa a frase dotada de genuína sonoridade reunida em estrofes, num movimento de ida e volta medida em sílabas poéticas. O verso é como se fosse a carcaça do poema. Obedecidas às regras de versificação, o metro, a rima toante e consoante, as aliterações e assonâncias, a boa relação, enfim, entre as palavras na frase, tem-se o bom verso, que por vezes se impõe como unidade autônoma na estrofe. Nem por isso o verso confere parte essencial na realização do poema, por mais bem elaborado que seja. Ao contrário, não há poesia se faltar ao verso o sopro de inspiração que lhe proporcione densidade humana, e as virtudes linguísticas que lhe confiram o bom gosto da forma, o belo. Sem emoção estética não há poema nem poesia. Podem-se encontrar excelentes versos, até agradáveis à leitura por suas rimas perfeitas, o ritmo e excepcionais qualidades sonoras, mas isso ainda não é poesia, é, ao máximo, uma boa prosa versificada, bem como identificou o filósofo ao se referir aos versos de Empédocles. Para que haja poesia é necessário que haja entusiasmo poético, inspiração, em síntese, emoção e predicados estilísticos verbais surpreendentes.
Apesar de tudo o que se tem discutido em contrário, ainda vige a ideia de que poesia é a arte de escrever em verso.
Antônio Cícero (1945) faz um levantamento desses conceitos abraçados pelos dicionaristas e dirime a questão com lucidez. Os dicionaristas são unânimes em definir a poesia como arte de fazer versos, contrariados pelo autor do excelente A poesia e a crítica:
Pois bem, nesse caso quase todo mundo está errado, pois é claro que, se tomarmos a poesia como a arte de escrever, compor ou fazer alguma coisa, trata-se de escrever, compor ou fazer poemas, e não versos; e, embora quase todos os poemas sejam compostos de sequências de versos, nem todas as sequências de versos chegam a constituir verdadeiros poemas.
A questão é ver de que é feita a prosa e de que é construído o poema. No capítulo anterior vimos as aproximações da poesia com a magia. Em termos literários o mundo é concebido pela emoção, forma de conhecimento e trans formação da realidade. A emoção é o componente que distingue a poesia da prosa. O desenho gráfico produzido pelo ir e voltar dos versos, ou das páginas corridas da prosa, é reserva de ordem formal não efetiva na distinção entre poesia e prosa.
Desde que entrei em contato com a poesia o meu empenho tem sido conhecê-la mais do que apenas senti-la. Meu maior esforço tem sido reconhecer os espaços que determinam a transformação da linguagem comum em linguagem poética, como se concebesse a existência da palavra comum e da palavra poética. No exame da questão tenho verificado enfim que toda palavra é poética, quando consagrada na linguagem. Revelada enganosamente na investigação da palavra poética no sentido preciosista do termo, o poema aborta e se converte num exercício inócuo e sem nenhum comprometimento do poeta. O objeto final do poema é a comunicação do poeta com o leitor. Por vezes, as aludidas palavras equivocadamente usadas como poéticas, impedem a comunicação do poema. Divorciado o texto do valor da comunicação, ele se converte num amontoado de palavras condenado ao nada, à pura literatice. As palavras devem ser o quanto possível claras no poema e de uso corrente, para que se permita a sua percepção por um número mais amplo de contempladores e não a um grupo de esnobes supostamente privilegiados. A poesia não necessita do uso das ilusórias palavras bonitas, ou das confusas palavras poéticas, porque a poesia, segundo Thomson, acontece simplesmente quando “o ressentimento mudo do subconsciente encontra forma verbal”.
Carlos Drummond de Andrade disse isso de forma completa num verso claro, chave de ouro do soneto “Conclusão”, saído em Fazendeiro do ar:
se o poeta é um ressentido, e o mais são nuvens?
O poeta é um ressentido que se manifesta na forma de expressão e muitos deles no modo de viver. Os poetas malditos identificados desde o romantismo e reunidos nos movimentos modernos como o simbolismo, e, no alvorecer do nosso século identificado também por seu modo de se comportar e na expressão poética chamados de poetas marginais, comprovam que toda palavra é poética. Tropeça em equívoco julgar poéticas apenas as palavras pronunciadas pelos pelintras, nos salões disputados por presunçosos homens de letras. Em relação à poesia não existe palavra feia ou bonita, tudo é palavra pronta a expressar o “ressentimento mudo” de Thomson e, também, as lições do poeta maldito Mallarmé (1842-1898) de que “a poesia se faz com palavras e não com ideias”.
A demanda, portanto, está na forma de expressão da poesia, em verso ou em prosa.
Nas lições de Jean Cohen20
O poeta em prosa está livre das contingências da versificação e, por conseguinte, mais à vontade para utilizar os recursos da linguagem poética.
“A poesia identificar-se-ia com a emoção” (Massaud Moisés: 1928-2018), enquanto a função específica da prosa é a formulação de juízos, em todas as suas manifestações. Isto é, com a prosa o autor emite raciocínios, divulga ideias e fórmula conceitos; com a poesia ele fixa emoção, seja em verso seja em prosa, segundo um professor de estética da Universidade do Amazonas (L. Ruas: 1931-2000), em conversa com o autor deste livro. A prosa autêntica pode realizar-se no ensaio sem, no entanto, ficar imune, ainda aí, aos desígnios da poesia, desde quando se observa o envolvi mento do autor expresso na primeira pessoa.
Há momentos em que o ensaísta, para melhor fazer-se entender em suas análises, lança mão dos elementos poéticos da retórica, como ocorreu a Montaigne (1533-1592), o criador do gênero ao analisar a tristeza. Em uma passagem desse ensaio o mestre recorre à linguagem poética, com a imagem surpreendente de uma antítese. Diz ele que com a tristeza os homens
(…) enfeitam a sabedoria, a virtude, a consciência, mas o adorno é pobre e feio.21
O escritor pode ser tocado por momentos de alta poesia num romance, novela ou conto, gêneros consumados da prosa de ficção. No ensaio, não, no ensaio predomina o raciocínio, embora a poesia esteja sempre disponível com o seu adjutório na realização do texto, como está na passagem de Montaigne sobre a tristeza.
O fato literário, em todos os gêneros, dá-se por incitamento da realidade sobre as pessoas. Face às coisas que não andem bem o homem age para melhorá-las por meio da ação política, dos procedimentos da educação, das atividades artísticas e por meio de tantos outros atos movidos pelas manifestações da inteligência e da sensibilidade ou nos atos voluntários dirigidos à prática do bem, como, por exemplo, na mobilização dos religiosos movidos pelo amor cristão também chamado de caridade.
Mas o poema em prosa é dominado pela emoção, a emoção fugaz provocada pela surpresa de ser e fixada por todas as formas de arte, neste caso a poesia, e a emoção duradoura suscitada pelo amor, também matéria de poesia.
A poesia, no poema em verso ou em prosa, oferece maior permanência à emoção estética produzida pela fuga cidade da surpresa ou pela duração do amor.
O fazer literário amazônico assimilou a contribuição com que construiu a literatura em língua portuguesa e a produção poética verificada nesse período da história de nossa cultura. O patrimônio legado pelos povos primitivos da Amazônia reapareceu nas primeiras manifestações da poesia praticada na Amazônia, a poesia que primeiro se manifestou no verso, o verso reconhecido como o berço de todas as línguas escritas e presente em essência na origem da atividade literária (Moisés), neste caso visto nos poemas de Tenreiro Aranha (1769-1811), a serem examinados mais à frente neste livro.
As primeiras manifestações literárias na região, por tanto, não eram escritas. É bom repetir isso. Os mitos com que esses povos explicavam a vida e orientavam a sua gente, constituíam formas de literatura oral repassada de avós para netos e retida nas tradições dos povos, tonificada pelas gerações seguintes. Tanto que – conforme se pode identificar em inúmeros exemplos tal como sucedeu a Mário de Andrade (1893-1945), com a rapsódia Macunaíma, e Raul Bopp (1898-1984), com o poema Cobra Norato, ambos de dicados a motivos da mitologia do imaginário amazônico -, a literatura praticada em nossos dias, tocada pelos motivos da Amazônia, possui o seu DNA nessa conjuntura histórica.
É certo que nesse procedimento a expressão escrita fez-se em verso, antes da prosa, na permanência do diálogo com os elementos da natureza, ou na avaliação de como essas informações repercutem no espírito. Atendeu às tendências da primeira forma de comunicação entre os homens. Tanto como já foram identificadas entre os povos primitivos e assinaladas também por meio da linguagem elaborada com o som e os ritmos, a dança e a música, a percussão combinada de sapateados e palmas para dizer do seu sentir, como está na Dança da Chuva e no Ritual da Tocandira, em seguida materializados com a palavra escrita.
Consolidados como estão no primeiro texto conheci do em língua portuguesa, versos compostos para celebrar o amor, fato sucedido infinitamente depois de o homem já se ter comunicado por meio das línguas remotas22. Isso, portanto, bem depois dos primeiros passos da língua portuguesa, muito recentemente se levarmos em conta a hipótese de o homem inteligente habitar a terra desde um tempo ainda não definido pelos calendários.
Não surpreende que os povos amazônicos ainda desconhecessem a palavra escrita no século. XV, quando Co lombo chegou às Américas. Não surpreende ainda que Dom Dinis, o Lavrador, (1261-1325) tenha sido o primeiro monarca português a dominar a leitura e a escrita, isto é, um homem alfabetizado, dois séculos antes apenas.
Por muitos motivos reconhecidos por suas qualidades de político e administrador, foi dom Dinis considerado um rei excepcional. Também não deixou por menos ao ser alfabetizado, adotou logo a língua portuguesa como língua oficial do reino, determinando por lei que os documentos oficiais e dos notários que eram escritos em latim, fossem lavrados em português castiço. Contribuiu ainda, com o seu talento na construção da lírica provençal, origem de nossa poética acadêmica. Tornou-se um dos maiores representantes do movimento literário medieval dos trovadores, das canções de amor e de amigo, de escárnio e de maldizer.
Na Amazônia, no entanto, bem mais tarde chegou a palavra escrita, junto com o colonizador e, a poesia produzida pelas populações nativas, deu-se a conhecer na modernidade por meio da pesquisa dos etnógrafos, em trabalhos lançados em prosa. Tenreiro Aranha, o primeiro poeta amazonense, viveu no século XVIII.
_________________
18 Baudelaire, Charles-Pierre (Paris). Poesia e prosa. Rio de Janeiro. Nova Aguilar, 1995, p. 277.
19 Aristóteles, Poética. Trad. Paulo Pinheiro. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2017.
20 Op. cit., p. 17.
21 Montaigne, Michel. Ensaios. 1. vol. Brasilia: Universidade de Brasília/Hucitec, 1987, p. 100.
22 “Cantiga da ribeirinha”, de Paio Soares de Taveirós, trovador da primeira metade do século XII, de origem da pequena nobreza galega.
(Capítulo Terceiro do livro: As Náiades e a mãe-d’água, do autor).
Views: 32