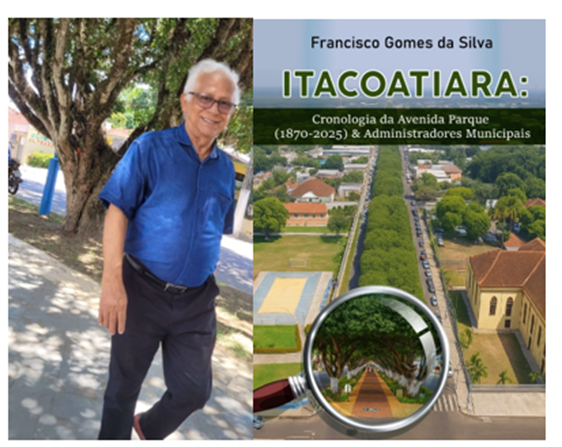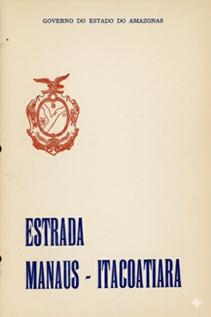*Vinícius Alves da Rosa
Um estudo da comunidade do barranco de são benedito, em Manaus, e do sagrado coração de jesus do lago do Serpa, em Itacoatiara – Am
Continuação…
2.6 Os diferentes pontos de vistas sobre o conceito de comunidade
“O sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu ponto de vista ser um ponto de vista sobre um ponto de vista”.
(Pierre Bourdieu)
O conceito de comunidade é um dos paradigmas que ainda motiva os debates nas Ciências Sociais. Trata-se de um conceito clássico que surge num contexto em que as mudanças sociais ocorreram pela consolidação da sociedade capitalista. Os cientistas sociais ao se debruçarem sobre a nova ordem social, marcada pelas revoluções do século XVIII, visavam explicar um mundo radicalmente diferente. Mas como explicar a então nascente sociedade capitalista? Quanto a isso, fez-se necessário um quadro de referências para esclarecê-la.
Essas referências são: a expansão da cidade sobre o campo, a transformação do vilarejo em metrópole na Europa e as sociedades chamadas pré-capitalistas. Estes são alguns dos autores e suas produções acadêmicas nos quais o contraponto comunidade e sociedade estão presentes: O Contrato Social de Rousseau, A Ideologia Alemã de Marx e Engels, A Divisão do Trabalho Social de Durkheim, Economia e Sociedade de Weber, Comunidade e Sociedade de Tonnies.
Tendo como referência tais produções acadêmicas, comunidade diz respeito à preeminência de grupos primários, relações sociais face-a-face, prestação pessoal, contato entre personalidades plenas, predomínio de produção de valor de uso. Assim entendido, o conceito de sociedade diz respeito à preeminência de grupos secundários, dissociação entre o público e o privado, relações sociais entre personalidades-status, organização contratual na maioria dos círculos de relações sociais, espraiando-se, por assim dizer, para o predomínio da produção de valor de troca (Ianni, 1989).
A sociologia realiza os estudos tendo como objeto de pesquisa a comunidade, enquanto instrumento de análise, uma vez que o ritmo de vida que caracterizava as sociedades pré-capitalistas as colocava como “um problema” a ser investigado. Na atualidade, os estudos também despertam interesse pelo assunto comunidade e, entre alguns estudiosos contemporâneos, se destacam: Michel Maffesoli e seu livro O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa; Zygmunt Bauman, através da obra Comunidade: a busca por segurança no mundo atual; Anthony Cohen em The symbolic construction of community; e Charles Wagley, autor de Uma comunidade amazônica: estudo do homem nos trópicos, tornando-se, este, um clássico nos estudos que tratam da realidade amazônica.
Uma das abordagens clássicas que este trabalho destaca é a concepção sociológica proposta por Ferdinand Tonnies, por meio da qual o autor estabelece a dicotomia entre sociedade e comunidade. De acordo com a obra, compreende-se que o conceito de sociedade implica na vontade dos seus membros; por sua vez, a comunidade é o lugar especial em que os semelhantes e familiares estão vinculados pela consanguinidade.
Comunidade é um tipo ideal, teorizado por Ferdinand Tonnies, que consiste em:
Tudo que é confiante, íntimo, que vive exclusivamente junto, é compreendido como a vida em comunidade, comunidade como a própria relação e, consequentemente, a associação que pode ser compreendida como uma vida real e orgânica – sendo isto então a essência da comunidade (Tonnies, 1973, p.96).
Neste sentido, a teoria clássica estabeleceu distinções entre comunidade e sociedade. Para Tonnies, a sociedade pode ser comercial, empresarial, industrial, formada por um grupo de pessoas que a ela aderem. Assim entendido, a sociedade representa o novo, mas é passageira e aparente, por se tratar de um agregado mecânico ou artificial. A comunidade representa o velho; é uma associação orgânica que manifesta a afetividade, a colaboração, segurança, ou seja, nesse tipo de associação as relações são mais fortes, verdadeiras e duráveis.
Na comunidade, segundo Ferdinand Tonnies, se apresentam três espécies de relações que visam aproximação, compreensão, língua, concórdia, reciprocidade, relacionamento, unidade, força e laços de sangue. Compreendidas como leis principais da comunidade.
[…] a unidade e a possibilidade de uma comunidade […] se apresentam em primeiro lugar e de maneira mais imediata, nos laços de sangue; em segundo lugar, na aproximação espiritual. É nesta classificação, portanto, que devemos procurar as raízes de todas as relações (associações). Daí nós construímos as leis principais da comunidade: 1) Pais e esposas se amam reciprocamente ou se habituam facilmente uns aos outros, falam e pensam juntos […] da mesma forma os vizinhos e outros amigos; 2) Entre aqueles que se amam (etc.) existe a compreensão; 3) Aqueles que se amam e se compreendem permanecem e moram juntos, regulam sua vida comum (Tonnies, 1973, p. 104).
Portanto, para Tonnies, comunidade é o lugar onde a vida não é mecânica, e as regras não são obrigatoriedades dos membros do grupo e, por isso, o autor considera que a vida na sociedade é algo virtual. Tonnies foi pioneiro da sociologia alemã, suas ideias influenciaram intelectuais como Max Weber, o sociólogo que compreendeu sociedade e comunidade como tipos de relação social. Esse sistema é a probabilidade de que uma forma determinada de conduta social (hostilidade, amizade, trocas comerciais, concorrência econômica, relações eróticas, relações políticas) tenha, em algum momento, seu sentido partilhado pelos diversos agentes numa sociedade qualquer. Em cada uma dessas condutas, as pessoas envolvidas percebem o significado, partilham o sentido das ações dado pelas demais pessoas (Weber, 2002).
De acordo com Weber (2002), sociedade é a relação social que resulta de uma reconciliação e de um equilíbrio de interesses motivados por juízos racionais, quer de valores ou de fins (arbitrário e técnico). Por sua vez, comunidade é um tipo de relação social em que a ação se baseia em um sentido de solidariedade, resultado das ligações emocionais ou tradicionais dos participantes (motivação afetiva, emotiva e tradicional).
Sendo assim, numa relação social denomina-se “relação associativa” quando a atitude na ação social se inspira numa compreensão de interesses por motivos racionais. A “relação comunitária” é a ação social inspirada num sentimento de participar de um mesmo grupo. Weber (1999) compreende que as “relações comunitárias” apoiam-se sobre toda espécie de fundamentos afetivos, emotivos e tradicionais, ou seja, comunidade é a contraposição radical da luta, é o sentimento de formar o todo. Seus tipos mais puros podem ser encontrados na irmandade espiritual, no relacionamento erótico, na lealdade pessoal, no companheirismo de uma unidade militar e, principalmente, na relação familiar. (Weber, 2002).
A “relação associativa” é a relação quando à atitude na ação social se inspira numa compreensão por motivos racionais e numa união de interesses com idêntica motivação, ou seja, na sociedade a troca é estritamente racional, os interesses são opostos e objetivos (Weber, 1999). Seus tipos mais puros podem ser encontrados na natureza rigorosamente conveniente do intercâmbio do mercado livre (interesses opostos, mas complementares), na união puramente voluntária baseada no interesse próprio, cuja meta é a promoção dos interesses materiais específicos (por exemplo, econômicos) de seus membros, e na união voluntária baseada em valores ideológicos absolutos (causa) (Weber, 2002).
Weber (1999, p. 142), também ressalta que “nem toda participação comum em determinadas qualidades, da situação ou da conduta, implica uma comunidade”. Enfim, para o autor, comunidade só existe propriamente quando a ação está reciprocamente referida no sentimento de formar um todo. Concernente a grupos identitários e suas crenças, o autor é enfático ao afirmar:
Os grupos étnicos são aqueles grupos humanos que, fundando-se na semelhança de um hábito exterior e de costumes, ou de ambos a um tempo, ou em lembranças de colonização e imigrações abrigam a crença subjetiva em uma procedência comum de tal forma que a crença é importante para a ampliação da comunidade (Weber, 1983, p. 318).
A conceituação clássica de Weber é similar à de Ferdinand Tonnies, pois ambos entendiam a comunidade como um tipo ideal, ou seja, como uma construção conceitual para analisar os grupos sociais e os seus membros. O clássico sociólogo Max Weber postulou suas ideias sobre outras categorias de análise, elaborou críticas sociais em geral, mas também contribuiu com o debate sobre a sociologia da religião. Segundo o pensador alemão, a crença é importante para a ampliação de uma comunidade.
Para melhor compreensão teórica, a conceituação contemporânea delineada por Joseph Gusfield (1975), vale ser revisitada, porque ao definir “comunidade e sociedade”, afirma o autor que os conceitos emergiram como opostos, por acentuar sociedade e diminuir comunidade, ou vice-versa. Sua proposta é que a realidade deve ser feita uma para a outra; comunal ou social, pois isso minimiza a ambivalência e a ambiguidade.Gusfield (1975) entende que os principais usos feitos da noção de comunidade são: a) o uso no sentido “territorial, o conceito aparece num contexto de localização, de território físico, de continuidade geográfica”. Este é o significado, em parte dos estudos de fenômeno semelhante como “potência da estrutura da comunidade”, “a comunidade urbana”, e “estudo comunitário”. Assim, os estudos sobre comunidade tratam da localidade dissociados dos mais remotos relacionamentos físicos.
A cidade, a vila, a vizinhança, o centro, estes seriam os “loci” de tais estudos sobre comunidade, na qual o foco é compreender o que ocorre em semelhantes entidades comunitárias, o que é a estrutura de autoridade, de classe, de relações, de governança. O segundo uso, o relacional, focaliza pontos de qualidade ou de caráter dos relacionamentos humanos, sem referência à localização.
Gusfield (1975), em referência ao “tipo ideal” – comunidade e sociedade – apresentado por Max Weber como uma construção imaginada, criticou o conceito Weberiano que reunia relações e eventos da vida histórica em um complexo sistema internamente consistente, mas que não descrevia a realidade, sendo apenas um meio de expressão.
Em contrapartida, o argumento de Anthony Cohen (1985) é que a comunidade é uma categoria simbólica, visto que a análise feita por este estudioso deve ser direcionada no significado da comunidade e não na sua forma e estrutura. Para Cohen (1985), grande parte dos estudos antropológicos e sociológicos se concentra nas estruturas e nas formas de organização da comunidade. Por isso, quando se fala em cultura, se quer dizer que as pessoas adquirem símbolos que irão representar a sua vida social.
Neste sentido, a cultura é constituída por símbolos, pois esta não impõe características determinantes, pelo contrário, ela simplesmente dá sentido aos seus símbolos; e o mesmo símbolo pode ter sentido diferente para as pessoas de diversos lugares, embora estas estejam estreitamente associadas como membros de uma mesma comunidade. Essa é a essência da comunidade, seus membros podem dar significado a determinadas coisas de forma geral ou somente no que diz respeito aos seus interesses individuais (Cohen, 1985).
Cohen (1985), em seus estudos sobre comunidade, a analisou segundo o significado e não em sua forma estrutural. Para isso, o autor, ao invés da estrutura, considerou a cultura como seu ponto de partida da investigação, ao contrário de outros estudiosos que consideraram que a estrutura determina comportamentos. Estes descreviam comunidade como instituição, entretanto, segundo Cohen, a comunidade já não pode ser mais descrita em termos de instituição porque se deve reconhecê-la como símbolo para que seus membros atribuam suas próprias significações aos símbolos que representam a comunidade.
Zygmunt Bauman (2003), ao discutir o conceito de comunidade, ratifica que há uma ideologia pré-concebida com relação ao conceito. Isso quer dizer que a concepção que se tem sobre comunidade é a ideia de uma “coisa boa”, de “paraíso”, de pertencimento a um grupo sem interesses individualistas. Idealiza-se que viver em comunidade significa estar relacionado a ambientes confortáveis, livres e seguros. “Uma parte integrante da ideia de comunidade é a “obrigação fraterna” (…), de partilhar as vantagens entre seus membros, independentemente do talento ou importância deles” (Bauman, 2003, p. 56). Dessa forma, imediatamente se conclui que a concepção que os indivíduos possuem sobre comunidade é a “comunidade imaginada”, o “paraíso perdido”. Por essa razão, segundo Bauman, se imagina que comunidade é o lugar que produz aconchego, todavia, ela não existe.
A comunidade realmente existente exigiria rigorosa obediência em troca de serviços, pois existe um preço a pagar pelo privilégio de viver em comunidade, posto que na comunidade há normas e cobranças. Dessa forma, na medida em que a vivência em comunidade significa a perda da liberdade, de certo, não se irá querer viver neste lugar, e a ideia de ser livre acaba sendo frustrada (Bauman, 2003). Partindo desta concepção, as considerações de Bauman são relevantes, modificam o conceito e dão um novo significado para se pensar comunidade.
Alguns dos seus escritos descrevem os grupos sociais que vivem na Amazônia, “vendem” ao mundo uma realidade baseada em pontos de vista contraditórios e “errôneos”. Esses estudos, influenciados por uma leitura clássica, consideram, sobretudo, que a Amazônia é o espaço onde tais grupos vivem em comunidades, portadores de “tradições” que de nenhuma forma podem ser alterados.
Charles Wagley (1988, p. 44), acerca da Amazônia, estabeleceu conceitos sobre o significado de comunidade e observou que “qualquer comunidade da Amazônia brasileira serviria aos seus propósitos, como laboratórios de estudos de uma cultura regional e da forma pela qual ela é preservada por um grupo de habitantes da Amazônia”. Dessa forma, ao perceber que a região era um lugar adequado a esse tipo de estudo, iniciou uma pesquisa sobre uma determinada “comunidade” na Amazônia.
Neste sentido, Wagley interpreta a comunidade de Itá tendo como referência a corrente culturalista sobre o significado de comunidade, comparando as “comunidades” da Amazônia com as comunidades dos Estados Unidos. E vislumbra em Uma Comunidade Amazônica por ele chamada de Itá, inferindo haver, nela, vida em comum. A partir desse estudo, enfatizou que em qualquer lugar da Amazônia poderia evidenciar aspectos gerais da região.
Sabe-se que as “comunidades” mudam à medida que mudam também seus interesses e práticas. Alguns elementos novos são incorporados, enquanto outros são descartados. A vida na comunidade é carregada de significado e representações, por essa razão ela pode implicar em similaridade e diferença (Cohen, 1985).
A partir das análises de Cohen (1985), não se pode interpretar qualquer “agregado humano” ou qualquer “comunidade” da Amazônia, a partir de estudos feitos em outros lugares, como fez Wagley, uma vez que a comunidade se opõe em relação a outras comunidades através da fronteira, que marca ou estabelece o início e o fim de uma comunidade, como afirma Cohen.
Na “comunidade”, todos acreditam nos mesmos mitos, praticam os mesmos cultos, conhecem as mesmas técnicas, manejam instrumentos idênticos, obedecem às mesmas normas. Isso não se trata de harmonia, pois numa comunidade, como em qualquer agregado humano, existem conflitos e paixões. Porém, esses conflitos se desenrolam num universo comum (Durham, 2004).
No caso da comunidade quilombola urbana do Barranco São Benedito, em Manaus, e da comunidade rural Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara-AM, intriga saber o que os agentes sociais chamam de comunidade. Seria, para eles, a base física, a localização geográfica? Ou seja, é o “locus” onde acontecem as práticas dos saberes e fazeres, tradicionalmente reinventadas através de conhecimentos manifestados através da religiosidade, da música, da arte e da gastronomia presentes na cotidianidade da unidade social. Contudo, embora se expressem nos gestos e na musicalidade, a pesquisa evidenciou que suas relações são intensas e conflituosas em alguns dos vários momentos.
Os territórios que os grupos étnicos ocupam em Manaus e Itacoatiara podem ser considerados, sobretudo, produtos das relações construídas no processo histórico-social, onde se manifestam elementos de sua vida, cultural, economia, religião e política. Decerto, portadores de tradições, de variações dos modos de vida, de padrões de comportamento, de formas próprias de se relacionarem e de histórias particulares, mas isso não significa que são grupos sociais fechados, onde exclusivamente só predominam suas tradições. São influenciados, também, pelas transformações que as cidades passam, pois há uma interação íntima entre os quilombos e a cidades. Sobre isso, diria Weber (2002), não devemos permitir que isso nos engane a ponto de pensarmos que a coerção, por exemplo, não possa ser encontrada mesmo nas relações comunais mais íntimas submetendo uns aos outros.
As considerações de Bauman (2003) são relevantes para dizer que em todos os lugares, assim como nas “comunidades” da região Amazônica, também existe um sistema organizado de “regras” que todos devem seguir, bem como há conflitos, divergências de ideias e o sentimento de obter uma vida melhor com a introdução de novas tecnologias que contribuem para otimizar o dia a dia. Além disso, trata-se de relações nas quais há conflitos, divergências de ideias e o sentimento de obter uma vida melhor com a introdução de novas tecnologias que contribuem para otimizar o dia a dia.
A partir do exposto, se ressalta que os grupos sociais não são relativamente coesos e harmônicos, por conhecerem técnicas de produção tradicionais, por viverem em lugares ditos distantes, e por habitarem próximos a rios, vias de regra, entendidos como que vinculados diretamente à natureza. Entretanto, estes aspectos se ampliam e se consolidam; e suas relações não permanecem sendo as mesmas, modificam-se continuamente com a introdução de novos aspectos culturais.
Os estudos sobre comunidade devem considerar que esta é uma categoria analítica, porque não há como definir comunidade tomando-a como um conceito estático. Assim, os sentidos atribuídos à comunidade, utilizados por estudiosos, devem ser percebidos como algo conceitual; de vertente analítica para compreender as organizações sociais que existem numa dada região.
Os conceitos delineados se referem a uma comunidade idealizada. De forma direta, não se aplicam à realidade da comunidade quilombola urbana do Barranco de São Benedito, em Manaus, e à comunidade quilombola rural Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara-AM. Isto quer dizer que o entendimento de comunidade como entidade ideal, harmônica e perfeita, sem a ocorrência de conflitos, não é constatada na análise empírica das comunidades em estudo.
Importa ressaltar que os conceitos refletidos podem contribuir com o entendimento de realidades nas quais se dão as vivências dos quilombolas, assentados em territórios e, portanto, construídos social e culturalmente. Portanto, os quilombos são territorialidades específicas e dizem respeito a questões que definem politicamente este grupo étnico a se expressar através de movimentos político-organizativos. Assim entendido, o objetivo precípuo dessa luta diz respeito à conquista de direitos étnicos e territoriais cujas relações – sejam elas de conflitos com seus antagonistas históricos ou com agentes internos – se estabelecem em terras tradicionalmente ocupadas.
Continua na próxima edição…
*Vinícius Alves da Rosa é Quilombola do Morro Alto/RS, mestre, professor e teólogo, tem sua formação acadêmica pautada em uma sólida jornada de conhecimento. Sua expertise é ampliada por especializações em Metodologia do Ensino de Filosofia, em Ciências da Religião. Complementou sua trajetória com um Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação e, por fim, obteve seu título de Doutor em Ciências da Religião pela (UMESP).
Views: 3