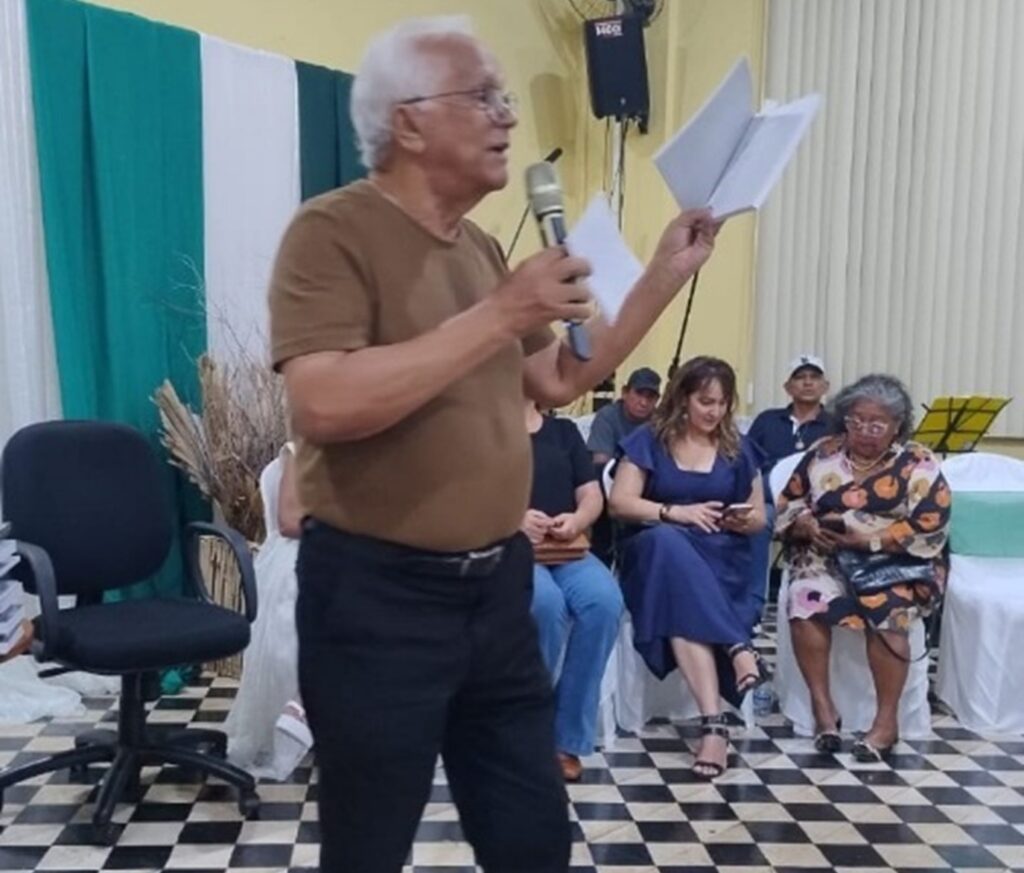*Vinícius Alves da Rosa
Um estudo da comunidade do barranco de são benedito, em Manaus, e do sagrado coração de jesus do lago do Serpa, em Itacoatiara – Am
Continuação…
1 DOIS QUILOMBOS E A RESPECTIVA FORMAÇÃO HISTÓRICA: QUILOMBO URBANO DO BARRANCO DE SÃO BENEDITO – MANAUS/AM E QUILOMBO RURAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO LAGO DO SERPA – ITACOATIARA/AM
O primeiro capítulo propõe o enfoque acerca dos quilombos e da respectiva formação histórica, a saber: Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito – Manaus/AM, e Quilombo Rural Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa – Itacoatiara/AM. Ele tece a caracterização histórica de ambas as comunidades quilombolas, a fim de mostrar as trajetórias históricas dos quilombos investigados, ainda que a preocupação central da tese, por ora elaborada, se delimita nas análises da religiosidade popular das duas unidades étnicas inseridas na Amazônia. Entretanto, o esforço epistêmico dedicado a este capítulo não adentra nas discussões referentes à religiosidade, o assunto será abordado sistematicamente no desenvolvimento posterior do presente trabalho de âmbito científico, produzido a partir da área das Ciências da Religião.
Manaus no final do século XIX e início do século XX experimentou um período de prosperidade econômica, advindo do que a historiografia regional consolidou como Belle époque Amazônica (Dias, 2003), (Daou, 2005), (Silva, 2012), (Costa, 2014), (Pinheiro, 2015) e (Pinheiro, 2017), o que possibilitou a transformação urbana da cidade, sendo o então governador, Eduardo Gonçalves Ribeiro, o principal responsável pelas mudanças urbanas na cidade (Mesquita, 2009).
Nesse momento, a cidade recebeu uma leva de migrantes, atraídos pelas promessas de fortuna com a comercialização da matéria prima relacionada ao ciclo econômico da borracha, ou pelo crescente mercado de trabalho que despontava na chamada “Paris dos trópicos”.
Além do rápido crescimento populacional, o processo de urbanização modernizadora de Manaus foi marcado também pela implementação, por vezes pioneira, de serviços urbanos de ponta, como se fossem linhas de bondes e telefônicas, o sistema de iluminação elétrica, além das redes de água e esgoto (Pinheiro, 2015, p. 29).
Dentre os estrangeiros migrantes, ganham destaque os portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, franceses e sírio-libaneses e, os nacionais, geralmente oriundos dos Estados do Ceará, Pará, Maranhão, entre outros. Estudos apontam que os recém-chegados se estabeleceram na cidade constituindo vilas e comunidades, ou se mantiveram espalhados pelos diversos novos bairros que se formaram.
Ainda que a capital do Amazonas tenha recebido os símbolos urbanos provenientes do colonialismo europeu, materializados à época na arquitetura do seu centro histórico, construído para negar as características da cultura indígena local, quer-se, aqui, descrever à luz do referencial teórico e a partir de realidades concretas, destacar o legado dos negros nos processos históricos de formação das identidades étnicas nas comunidades quilombolas da Amazônia brasileira.
Em Manaus, podemos destacar a chegada dos maranhenses, especificamente no bairro Praça 14 de Janeiro, no final do século XIX, no lugar onde está localizado o atual quilombo do Barranco de São Benedito. Consoante relato dos quilombolas mais antigos, essa expedição era composta pelos seguintes integrantes: Vovó Severa (Maria Severa Nascimento Fonseca) e seus filhos, Antão Nascimento Fonseca, Raymundo Nascimento Fonseca e Manoel Nascimento Fonseca, além do casal de amigos da família, Fellipe Nery Beckman e Maroca Beckman.
Para fins da correta compreensão a respeito dos nomes concernentes aos agentes sociais estabelecidos no bairro Praça 14 de Janeiro, no município de Manaus, faz-se necessário registrar que a Sra. Maria Severa, carinhosamente chamada pelos seus familiares de Vovó Severa, foi casada com o Sr. Antão do Nascimento Fonseca, vítima de assassinato no Estado do Maranhão, fatos estes narrados pelos interlocutores da pesquisa, pertencentes à linhagem de descendência de Antão e Vovó Severa.
Dona Maria Severa, por todos assim conhecida – cujo nome de batismo, tempos depois se verificou ser LUCIA DO NASCIMENTO FONSECA –, dera ao filho mais velho o nome de Antão. Assim entendido, além de o primogênito receber o mesmo nome de seu pai, Lucia e Antão tiveram outros dois filhos: um, de nome Manoel Nascimento Fonseca; e com o mesmo sobrenome, o outro chamou-se Raymundo, nome este grafado com a letra “y”, que, por sua vez, tivera um filho ao qual colocou o nome de Raimundo, grafado com a letra “i”, sendo este, portanto, neto de Antão e Maria Severa.
Em Manaus, a exemplo desses fatos ocorridos com os migrantes do Estado do Maranhão, no município do Amazonas, meados do século XIX, mais precisamente no ano de 1857, na Colônia Agroindustrial, registra-se o desembarque de trinta e quatro africanos livres. Trata-se do atual município de Itacoatiara/AM, cujos negros foram trazidos para trabalhar em serraria, olaria, estaleiro, bem como na agricultura de propriedade do Sr. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, sendo eles os fundadores do atual quilombo Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa.
Do ponto de vista geral, a respeito desse contingente negro com origem no nordeste ou na região sudeste do país que se deslocou para o Amazonas, cabe registrar que em período anterior à Abolição, embora o número desses migrantes não seja tão expressivo, a presença negra contribuiu junto à lógica organizacional do mercado produtivo, tanto na cidade de Manaus quanto no interior do estado, como observa Pinheiro (2017):
Com relação a presença negra no universo do trabalho em Manaus, somente com o pós-abolição é que se torna possível perceber alterações mais significativas, no sentindo de uma maior ampliação da participação negra, tanto no interior da sociedade amazonense quanto dos contingentes de trabalhadores urbanos atuando em Manaus (Pinheiro, 2017, p. 27).
Estando organizados nos quilombos ou mocambos, de acordo com dados oferecidos pelo INCRA/2024, no Amazonas registram-se 15 (quinze) quilombos oficialmente identificados pela Fundação Cultural Palmares – FCP, como comunidades remanescentes de quilombos, a saber: em Manaus, o Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito/Praça 14 de Janeiro; no interior do Estado: em Itacoatiara, Quilombo Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa; em Novo Airão, Quilombo do Tambor; São Lázaro do Jau; Cachoeira do Jau, em Urucurituba, Santa Maria do Igarapé do Mato e as 09 comunidades quilombolas no rio Andirá/município de Barreirinha, Santa Tereza do Matupiri, Ituquara, Boa Fé, São Pedro, Trindade, São Paulo do Açu, São João do Urucurituba, Nossa Senhora da Conceição (Vila Carneiro) e Monte Horebe.
Esses quilombos que expressam uma constelação de unidades sociais, bem como, aqui, brevemente situadas no contexto histórico do Estado do Amazonas, tais exposições dão a exata dimensão sobre o grau de importância quanto a enveredar por trilhas investigativas que nos permitam compreender e analisar a formação histórica dos quilombos em Manaus e Itacoatiara. Trata-se de deslindar, pelas configurações socioculturais, os nexos que se interligam para, assim, se ter a ciência dos fatos que contribuíram para a afirmação identitária dos quilombolas; suas formas de organizações ou resistências na manutenção dos territórios, ou seja, nos processos estabelecidos pelas lutas por reconhecimento identitário.
Assim entendido, na seção posterior, apresentar-se-á o “mito de origem”8, dos dois quilombos: da comunidade do Barranco de São Benedito em Manaus; e do quilombo rural de Itacoatiara, ambos lócus da presente pesquisa e reflexões delineadas a seguir.
1.1 O “mito de origem” da Comunidade do Barranco de São Benedito, em Manaus/Am
Fontes documentais revelam que no século XIX, em meio à corrente migratória, desembarcou na capital amazonense o maranhense Felippe Nery Beckman. Trata-se de um personagem determinante para a compreensão do que hoje se autodefine por quilombo do Barranco de São Benedito, localizado no bairro de Praça 14 de Janeiro, na cidade de Manaus.
Tais fatos se expressam, por via de fontes documentais, através das quais fica evidente ter sido o Sr. Beckman a pessoa responsável por receber o título definitivo das terras onde hoje está estabelecido o referido quilombo. A respeito desse Título – pago e expedido em 1896 pelo governador do Estado, Eduardo Gonçalves Ribeiro9 –, em 19 de agosto de 1963, atendendo-se ao Requerimento emitido pelo Sr. Raimundo Nascimento Fonseca, neto de Maria Severa, é expedida Certidão através do Cartório de Registro Especial, Títulos e Documentos do Estado do Amazonas, na Comarca de Manaus, conforme teor abaixo transcrito pelo escrivão:
Revendo neste Arquivo o registro do Título Definitivo, já recolhido, referente ao ano de mil oitocentos e noventa e seis (1896), encontrei o seguinte registro que passo a transcrever: Título Definitivo, de Felippe Beckman. O Governador do Estado do Amazonas. Faz saber aos que o presente título virem, que de acordo com o Regulamento que baixou o Decreto número trinta e sete (37), de oito (8) de Novembro de mil oitocentos e noventa e três (1893), foram aprovadas a medição e demarcação procedidas em um lote de terras adquirido por Felippe Beckman, de conformidade com as disposições do artigo cinquenta e seis (56) do citado Regulamento o qual está situado no Município d’esta Capital, verificando-se ter uma área trezentos e trinta e três metros quadrados (333 ms2), com um perímetro de noventa e dois metros lineares (92 ml), limitando-se ao Norte, com a Avenida Japurá, por uma linha de nove metros (9m) ao rumo de 90º; ao sul, com terras de Hildebrando Luiz Antony, por uma linha de igual extensão ao rumo de 270º; a Leste, com o terreno de Antão do Nascimento Fonseca, por uma linha de trinta e sete metros (37m) ao rumo de 180º e ao Oeste, com terreno de Geraldo José Ribeiro por uma linha de igual extensão ao rumo de 360º. E para constar passou-se este Título Definitivo, ficando por esta forma investido o mencionado Felippe Beckman, de todos os direitos e regalias por Leis conferidas, bem como sujeito as disposições consignadas no citado Regulamento de oito (8) de Novembro. Palacio do Governo do Estado do Amazonas, em Manaus, vinte e dois (22) de Maio de mil oitocentos e noventa e seis (1896). Eduardo G. Ribeiro, nº 542 (542). Pagou de Emolumentos sessenta e seis mil e seiscentos reis (66.600)10.
Por todo o grau de importância atribuído a Felippe Beckman, sobretudo quanto à conquista acerca do Título Definitivo dessa terra que contemporaneamente deu lugar ao quilombo, o “mito de origem”, aqui considerado, se dá com base nas narrativas dos membros da comunidade. Sendo transmitidas oralmente de geração a geração, portanto, não é propriamente um feito histórico. Não obstante, embora se processe uma “historicidade” da comunidade, os mitos são narrativas utilizadas para explicar a realidade, ou seja, a origem dos fatos. Nos estudos antropológicos, busca compreender como os povos vivem; como os grupos humanos se organizam e a forma pela qual a cultura se desenvolve ao longo de um processo de construção identitária.
A propósito dos aspectos organizacionais, como se verifica a seguir, os agentes sociais, interlocutores da pesquisa, apresentam suas versões ao explicarem fatos que concorrem para a compreensão acerca da formação dos grupos étnicos a que pertencem. Por exemplo, sobre o quilombo abrigado na cidade de Manaus, a história inicia a partir de 1890 com a chegada das famílias nos limites desse território cujos quilombolas, hoje, fazem parte da 7ª geração dos descendentes de Maria Severa ou Vó Severa, fundadora desta unidade social e por todos identificada como o mito de origem do “Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito”, assim autodefinido, contemporaneamente.
A respeito do “mito de origem” da então comunidade, hoje, autodefinida como Quilombo do Barranco de São Benedito na cidade de Manaus, em 2022, curiosamente – por meio de pesquisa junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro Civil/Manaus –, deparamo-nos com um fato novo; algo importante para o processo de construção desta pesquisa. Trata-se de fonte cartorial inédita sobre a história de vida da fundadora desse quilombo. Explica-se: em pesquisa ao referido Cartório não há dados referentes à Sra. “Maria Severa Nascimento Fonseca”: a “Vó Severa”, ou seja, contrário a isso, os registros fazem referência ao casal Antão do Nascimento Fonseca e Lucia do Nascimento Fonseca, tida como fundadora. Portanto, trata-se do “mito de origem” desse quilombo e da linhagem de sua descendência. Fato a respeito do qual se pode afirmar com a devida lealdade investigativa de que aquela pessoa por todos carinhosamente referenciada sob a alcunha de “Vó Severa” é, ela mesma, a Sra. Lucia do Nascimento Fonseca.
A informação apresentada sobre o nome de Lucia do Nascimento Fonseca, é um dado novo que fora obtido por meio de buscas junto aos cartórios em Manaus, pesquisa realizada pelo autor deste trabalho juntamente com a quilombola Rafaela Fonseca da Silva, mestra no Programa de Pós-Graduação em Ensino Profissional do Instituto Federal do Amazonas – IFAM. Assim, anteriormente a esta pesquisa no referido Cartório, Vovó Severa era por todos reconhecida como sendo a fundadora da comunidade quilombola e, de maneira mais formal, era referenciada nos trabalhos de pesquisas pelo nome de Maria Severa Nascimento Fonseca.
No decorrer da escrita do trabalho de pesquisa foi-se construindo um verdadeiro enredo tecido pelo tempo e que, endossado pelas narrativas dos quilombolas, o trabalho de investigação ganhou tessitura ao enveredar pelos caminhos das “descobertas documentais”. Assim, a narrativa dos agentes sociais articulada à pesquisa arquivística, ambas permitiram consubstanciar o teor das análises e interpretações, possibilitando uma verdadeira “arqueologia da memória” sobre a especificidade histórica dos quilombos aqui estudados.
Sobre a precursora do quilombo (Figura 1, em anexo), foi possível obter através do Sr. Cláudio Fonseca, bisneto da Sra. Lucia do Nascimento Fonseca, que gentilmente prestou informações sobre dados adquiridos junto à administração do Cemitério São João Batista, em 2022. Sendo este o mais antigo e tradicional Cemitério da cidade de Manaus. Fato este que informa sobre a data de nascimento e de falecimento da dona Lucia, respectivamente, em 04/12/1839 e 16/10/1941.
A respeito do nome da fundadora da Comunidade Quilombola do Barranco de São Benedito, presume-se, hipoteticamente, que a Sra. Lucia Nascimento Fonseca, passou a ser chamada pelo codinome de “Maria Severa”, em decorrência da sua expressão facial. Como aí se vê no único registro fotográfico (Figura 1), o semblante carregado perpassa a ideia de uma pessoa séria; sisuda. Por outro lado, numa observação mais atenta, há que se notar certa melancolia estampada no olhar de Vovó Severa – A precursora – provavelmente pelo fato de carregar como marca inconteste o estigma de escrava alforriada; mulher negra, viúva, praticante da religiosidade do terreiro cujos traços certamente sugerem a expressão de um rosto carregado pela vida dura.
Aliás, na relação de pesquisa construída neste quilombo urbano, por ocasião de uma entrevista realizada com a Sra. Deusdete Fonseca, chamou atenção o relato do quilombola contar que seu pai Antão do Nascimento Fonseca, não costumava sorrir. Manteve-se sério ao longo de toda a vida, de acordo com os registros fotográficos cedidos pelo Sr. Cláudio Fonseca, os quais foram realizados no Cemitério Municipal São João Batista, em Manaus. O Sr. Antão nasceu em 31 de dezembro de 1887, e faleceu em catorze de abril de 1968. Assim, é provável que essas marcas, fruto de circunstâncias similares, tenham impregnado a alma de gerações posteriores as de seus antepassados.
Na esteira das investigações acerca da linhagem de descendentes de Antão e Lucia do Nascimento, dados também podem ser ratificados mediante a Certidão de Nascimento do neto mais velho, datada de 1910, visto que no referido documento consta o nome de seus avós paternos: Antão do Nascimento e Lucia do Nascimento (Figura 2, em anexo). Conforme a figura 3 (em anexo), na qual também consta o registro de nascimento de Miguel do Nascimento Fonseca, respectivamente, filho de Raymundo do Nascimento Fonseca e Paula Maria do Nascimento.
Do ponto de vista do traçado urbanístico de Manaus, segundo Mário Ypiranga Monteiro (1990), a carência de mão de obra para trabalhar nas obras públicas em construção na cidade fez o Governador do Estado, Eduardo Gonçalves Ribeiro – ao longo de seus dois mandatos, nos anos de 1890 a 1896 – recrutar profissionais de áreas distintas, e incentivar a vinda dos seus conterrâneos, os quais ao chegar à cidade, fixaram-se no atual bairro Praça 14 de Janeiro.
A pesquisa sobre a figura de Beckman ainda carece de mais subsídios documentais, para que se obtenha dados acerca desse personagem importante e, assim, compreender a vinda de negros/as maranhenses para a capital do Estado do Amazonas. Todavia, com registrado em fontes documentais disponíveis, há de que considerar o Sr. Beckman como o primeiro proprietário das terras, doadas em 1896, pelo governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. Local este onde, até os dias de hoje, está situado o quilombo urbano do Barranco de São Benedito, cujos herdeiros, seguindo-se ao apelo cultural, são os principais incentivadores da festa religiosa em devoção a São Benedito.
São Benedito é um dos santos mais populares no âmbito da devoção da religiosidade católica popular no Brasil, cultuado inicialmente pelos negros tornados escravos, por causa da cor de sua pele, e origem. Ele nasceu na Itália, mas tinha ascendência africana e negra; passou a ser reverenciado pelo povo como exemplo da humildade e da pobreza.
Em vida recebera o apelido de “o Mouro”, um adjetivo italiano utilizado para todas as pessoas de pele escura e não apenas para as pessoas com origens no Oriente. Era filho de africanos vindos da Etiópia, vendidos e tornados escravos numa ilha da Itália, mas no Brasil ele é chamado de São Benedito, o Negro, ou apenas “o Santo Negro”.
Por ser o santo comunitário por excelência, a sua festa é feita pelo povo para seu santo. E em sendo o santo do povo, a festa é feita pelo povo, para o povo em seu santo, ao contrário da festa do Divino que é feita pelo santo para o povo (Bandeira, 1988, p. 229).
Aos vinte anos de idade, ingressou na Irmandade de São Francisco de Assis, instituição fundada por um frei franciscano, em Palermo na Itália, onde se tornou um religioso exemplar, pois primava pela intensa devoção, pela humildade, pela obediência, e pelo fervor espiritual, na irmandade exerceu a função de cozinheiro.
Benedito era um irmão leigo e analfabeto, mas a sabedoria e o discernimento que demonstrava fizeram com que os superiores o nomeassem mestre de noviços e foi eleito o superior do convento onde vivia, mais tarde foi conviver com os integrantes da verdadeira Ordem de São Francisco de Assis.
As pessoas lhe obedeciam espontaneamente. E ele escolheu morar no convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo na Itália, onde viveu ao longo de sua vida. Neste lugar, exerceu as funções de faxineiro e cozinheiro, onde ganhou notoriedade e santidade pelos milagres ocorridos pela intercessão de suas orações.
Deste modo, os príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos e leigos, das diferentes classes sociais, dirigiam-se a ele em busca de conselhos e a procura de orientação espiritual, por suas virtudes cristãs e dons carismáticos, legitimados pelas pessoas da época que recorriam ao frei Benedito para receber bênçãos e milagres.
Eles desejavam se aproximar de Benedito, por causa de sua fama de santidade, palavras e orações. Os escravos da época também simpatizavam com ele, por ser negro, pobre e possuir virtudes espirituais, em torno do seu nome surgiram inúmeras paróquias em diversos lugares do mundo inspiradas em seu modelo de humildade e caridade.
São Benedito, o Santo Negro e dos negros, foi canonizado em 24 de maio de 1807, pelo Papa Pio Vll, sendo reconhecido oficialmente pela Igreja Católica. Representado com o menino Jesus nos braços porque muitas testemunhas afirmaram o terem visto durante suas orações, tendo nos braços o Menino Jesus. Em outra iconografia, Benedito está segurando um ramalhete de flores, em alusão a um dos seus milagres, pois costumava doar alimentos aos pobres e escondia na barra do seu manto alguns pães. Porém, o frade franciscano superior do convento teria visto rosas vermelhas. No Brasil, por orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a festa de São Bendito é comemorada no dia 5 de outubro.
Cumpre nominar os santos negros e santas negras, reconhecidos/as oficialmente pela Igreja Católica Romana, a exemplo de Santa Efigênia, São Elesbão, São Benedito, Padroeiro da Comunidade quilombola do Barranco em Manaus e Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do quilombo Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara – AM.
Embora restritas as fontes documentais sobre o Sr. Felipe Beckman, há dados disponíveis que informam sobre a viagem realizada na ponte marítima entre Manaus e São Luiz no Maranhão, como noticiado no jornal maranhense “Pacotilha11, de 1889. A que tivemos acesso, e em cuja reportagem registra como passageiro o Sr. Felippe Beckman, entre os portos dessas duas cidades.
Para dar conta dessa trajetória histórica dois elementos são fundamentais: de um lado se tem as fontes primárias relativas aos fatos narrados pelos agentes sociais que, uma vez registrados, se convertem em memória coletiva; por outro lado, os registros oriundos de fontes secundárias convergem para a compreensão acerca de fatos históricos e legitimamente registrados face ao processo de construção de identidades étnicas. Estes elementos estão identificados nos trabalhos científicos desenvolvidos no Estado do Amazonas, mais especificamente no quilombo do Tambor, município de Novo Airão/AM e na comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, no município de Oriximiná/PA, estudos que permitiram ao pesquisador Farias Júnior (2013) assegurar que:
Apoiado nas análises de Acevedo Marin e Castro (2004) sobre o que designaram de “etnografia dos documentos”, considero que podemos identificar a partir do levantamento de fontes primárias e secundárias, a dinâmica social do conflito, como também elementos que envolvem a construção da identidade étnica de “remanescentes de quilombo”. Acevedo e Castro (2004) designaram como “etnografia dos documentos” o tratamento etnográfico em relação ao levantamento de fontes documentais, onde se verificou a dinâmica social de ocupação da terra pelos denominados “remanescentes de quilombo” (Farias Júnior, 2013, p. 56).
Tal assertiva converge para o entendimento de que é possível identificar práticas culturais específicas, nos elementos que compõem a identidade coletiva dos agentes sociais, com base no passado e presente, consoante asseguram os relatos das histórias vivas nas lembranças daqueles que continuam vivendo no mesmo território dos seus antepassados, ou seja, em território tradicionalmente ocupado. As evidências podem ser percebidas através da entrevista feita com a Sra. Maria de Nazaré Vieira dos Santos12, como registrado a seguir.
Entrevistador: O senhor Felippe Beckmann veio do Maranhão para Manaus?
Nazaré: – Veio, mas eu não conheci, quando eu cheguei, ele já não era mais vivo.
Entrevistador: Ele veio de Alcântara para Manaus?
Nazaré: – Não sei se ele veio de Alcântara, mas foi ele quem trouxe São Benedito.
Entrevistador: A imagem de São Benedito era do Felippe Beckmann?
Nazaré: – Sim, do Felippe Beckmann!
Entrevistador: Há quantos anos a senhora participa dos festejos de São Benedito?
Nazaré: – Desde menina, e o São Benedito era pra ter a igrejinha dele, nunca teve né? Nossa Senhora de Fátima, sim, aí virou aquela confusão, negócio que mudaram né, depois fizeram aquela música, mas era pra ser São Benedito (…) (Entrevista 01, Maria de Nazaré Vieira dos Santos [Dona Nazaré], 83 anos, Manaus, 19-04-2017).
Em virtude do relato da senhora Maria de Nazaré Vieira dos Santos, surgiu outra narrativa a respeito de São Benedito, tendo em vista que os quilombolas acreditavam que a imagem pertencia à dona Maria Severa Nascimento Fonseca. Todavia, a entrevistada é enfática ao afirmar que a imagem pertencia a Felippe Beckman, por ele trazida do Maranhão. Aliás, em um momento da conversa informal, Dona Maria de Nazaré Vieira dos Santos enfatiza que o Sr. Felippe Beckman foi o primeiro a chegar em Manaus. Portanto, num período anterior à chegada da Sra. Lucia do Nascimento Fonseca. Referindo-se à “Vovó Severa”, dona Nazaré afirma que ela se mudou para Manaus a convite do Sr. Felippe Beckman.
Com a chegada dos/as negros/as naquela localidade previamente definida e, por concentrar pessoas inicialmente classificadas como operárias, lavadeiras de roupas, vendedores de comidas típicas, com origens no nordeste brasileiro, o grupo social ali instalado era denominado pela sociedade local como “Colônia Maranhense”13, “Reduto Maranhense” ou “Vila dos Maranhenses”.
O então governador do Amazonas, o Sr. Eduardo Gonçalves Ribeiro, era engenheiro, de formação militar positivista, natural da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Como já citado anteriormente – de acordo com a Certidão do Cartório do Registro Especial, Títulos e Documentos do Estado do Amazonas, na Comarca de Manaus – o Governador comprara um terreno em 1896, e doara ao Sr. Felippe Beckman, cujo local diz respeito ao território em que está situado atualmente o quilombo urbano do Barranco de São Benedito. Tais informações constam também no caderno do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Vitória Régia que, através do Enredo do Carnaval/90, o samba entoa a canção, afirmando que:
O referencial mais antigo da comunidade foi o maranhense Felipe Beckman, um negro que havia sido escravo e que iniciou o culto de São Benedito padroeiro dos negros. E assim, Felipe Beckman coordenou e liderou inicialmente a instalação dos negros que iam se estabelecendo no início do século na Praça 14, cuja vinda e permanência em Manaus, foi favorecida por Eduardo Ribeiro, Governador na época também maranhense e negro (GRES Vitória Régia, Enredo do Carnaval 90).
Mesmo fazendo parte da tradição oral da comunidade, não foi encontrado nesta pesquisa dados que identifiquem a relação entre Eduardo Ribeiro e Felipe Beckman, da mesma forma inexistem detalhes que informem como efetivamente era a relação do então Governador com a comunidade que deu origem ao quilombo do Barranco de São Benedito, territorializado na Praça 14 em Manaus.
Todavia, estudos informam sobre as relações de reciprocidade entre o Sr. Felippe Beckman14 e dona “Severa”. O escritor Mário Ypiranga Monteiro (1983) oferece dados que permitem entender que Felippe e Severa eram amigos. Aliás, Felippe foi pai de criação de Raimundo Nascimento Fonseca, filho da dona Maria Severa. Ao tempo em que seu Felippe e sua esposa, Maroca Beckman, eram padrinhos de Bárbara Fonseca, neta de dona Maria Severa. Tais fatos levam a crer que havia entre as duas famílias relações construídas de solidariedade.
Não podemos assegurar com exatidão sobre quais foram os motivos da vinda de Felippe Beckman para Manaus, embora saibamos que o sobrenome Beckmam é de origem germânica, pois, fontes históricas informam que os Beckman lideraram uma revolta no Estado do Maranhão em 1684, devido a suas insatisfações com a Coroa Portuguesa.
A vinda dos maranhenses é objeto de estudo nas discussões da historiografia que trata sobre o tema “Mundos do Trabalho”, em recente livro o historiador Balkar Pinheiro que corrobora com Mário Ypiranga, quando o autor endossa: “Caminhamos com a hipótese de que tais trabalhadores, assim como também parte do corpo técnico que compunha o funcionalismo municipal e estadual, teve origem em levas migratórias vindas do Maranhão, desde o imediato pós-abolição” (Pinheiro, 2017, p. 45).
Exemplo disso é o Decreto de Lei nº 8 de 21 de Setembro de 189215, que autorizava o Governador a conceder passagens gratuitas de 3ª classe a artistas nacionais e estrangeiros, assim como possibilitava a eles certa ocupação laboral, alojamento e diárias com as despesas por conta do Estado a quem quisesse fixar residência no Amazonas. Nesse sentido:
Eduardo Ribeiro compreendeu que não se poderia trabalhar sem técnicos. Voltou-se para o problema inicial da mão de obra (…) manda buscar operários na Europa, Maranhão e Bahia, aproveitando uma lei amparadora. Documentaremos a seguir: o secretário do governo apresentava em ofício ao chefe da Segurança Pública da Bahia (não refere o nome) em janeiro de 1893, o cidadão Aprígio Monteiro de Carvalho que ia contratar artistas, dizendo: “… rogo-vos que auxilieis esse cidadão no desempenho dessa comissão a que esse governo liga a máxima importância” (Monteiro,1990, p. 66).
Os profissionais masculinos trabalharam nas obras do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, da ponte Benjamin Constant e no reservatório Mocó, dentre outros trabalhos em oferta na cidade. Para os homens, os postos de serviços giravam em torno das atividades do comércio, operários em fábricas e o mercado informal do trabalho. Já as mulheres atuavam nas fábricas ou em ateliês de costuras que existiam na cidade (Pinheiro, 2017). Havia também um mercado informal de trabalho que consistia na venda de produtos “ofertados” por ambulantes espalhados pela cidade. Outras atividades majoritariamente femininas eram das lavadeiras de roupas ou com a participação de mulheres na gastronomia; cozinhavam as comidas típicas para comercializar as iguarias em suas bancas de guloseimas.
Aquelas famílias de migrantes do Maranhão estabeleceram-se na Rua Japurá, cuja fixação urbana permitiu-lhes estabelecer relações de sociabilidade, seja por vínculo de parentesco ou por sentimento de afetividade e de pertença ao território. Foi por via desse processo de relações interpessoais às formas de expressar certa liberdade organizacional do movimento representativo, que oportunizou a formação desse grupo étnico na cidade de Manaus. Dadas as características da estrutura urbana de Manaus, a comunidade era tida como um lugar longínquo da cidade, formada por lotes de terras particulares, numa região de chácaras cujas propriedades pertenciam a famílias financeiramente privilegiadas. Lugar, este, que havia poucas estradas, alguns igarapés nas proximidades. Reiterando-se, nas palavras dos antigos moradores quando afirmam: “aqui quase tudo era mato”. Observe o mapa da figura 20 (em anexo).
Com relação ao Sr. Felippe Beckman, trata-se de um negro, por todos reconhecido como o primeiro membro da comunidade a chegar em Manaus. E, de acordo com as narrativas dos mais velhos, seu Felippe, ex-escravizado no Maranhão, primava por assegurar interações de reciprocidade com os seus conterrâneos que fixaram residência na Praça 14. No entanto, tendo por base o deslocamento dos Beckman que migraram para o Amazonas ainda no século XVIII, podemos inferir ser possível que alguns membros dessa família tenham sido “senhores de escravos”.
A propósito do aspecto cultural que os migrantes carregam consigo, transportando-o para o local do deslocamento, o relato do quilombola Sra. Deusdete Fonseca Lima16 (dona Deca), é ilustrativo:
Quando a mamãe veio do Maranhão, o meu pai já estava aqui em Manaus, a vovó nasceu em Codó, e a vovó ela dançava batuque, só que eu não acredito nessas coisas, eu me lembro, um dia ela disse: – Vamos? Aí eu fui! O batuque era aqui na Duque de Caxias. O terreiro do batuque era ali, aí ela pediu da mamãe: Eu vou levar a Deca! Eu era pequena, aí ela ainda me levou pra mim dar uma rodada, comemos um tal de mocororó [risos], aí eu fui, porque eu sou uma pessoa que eu nunca respondi nem pro meu pai, nem pra minha mãe, aí, depois daí eu não fui mais, a mamãe e o papai não gostavam dessas coisas (Entrevista 02, Deusdete Fonseca Lina, [Dona Deca], 87 anos, Manaus, 26-11-2016).
A dona Deusdete Fonseca Lima faleceu em 2024. Era chamada de “tia Deca”, filha do Sr. Antão do Nascimento Fonseca (Mestre Antão), e, portanto, neta da Sra. Lucia do Nascimento Fonseca (Vovó Severa). De acordo com a entrevista realizada com ela em 2016, sua avó nasceu no município maranhense de Codó, cujos municípios que agregam as comunidades quilombolas no Maranhão são conhecidos pela designação “terra de preto”.
Dona Deusdete relembrou sobre o “batuque” que havia na Praça 14, prática da religiosidade dos povos-de-terreiro presente na memória dos quilombolas, pois, tais crenças, referem-se aos terreiros existentes na localidade do passado: o da mãe Efigênia, mãe Marina e mãe Clara. Os relatos dos mais velhos informam que a Dona Severa e Maroca Beckmam eram sacerdotisas da sacralidade de matriz africana.
As famílias Vieira dos Santos, Souza, Soeiro do Nascimento, Adjiman Silva, Fonseca, dentre outras, constituem a comunidade, cujos descendentes da dona Lucia do Nascimento Fonseca ressignificaram suas histórias de vida. Notadamente, pelo protagonismo e liderança da fundadora da comunidade, hoje, autorrepresentada sob a designação de remanescente quilombola, que convive no território tradicionalmente ocupado.
Portanto, para consubstanciar a construção analítica da tese, estamos estabelecendo contatos com as secretarias das cúrias católicas nos municípios de Alcântara, Pinheiro, Codó, no Maranhão, e com os cartórios de registros destes municípios, na busca de obter dados de nascimento ou de batismo da Senhora Lucia do Nascimento Fonseca, seus filhos: Antão, Raymundo e Manoel, bem como para obter possíveis informações a respeito de Felippe Nery Beckmam.
1.2 O desembarque de sirinhaém: 34 africanos livres na colônia agroindustrial itacoatiara
Foi na leitura do arquivo de Camaragibe que cresceu, em mim, a suspeita de que o desembarque de Sirinhaém era alguma coisa mais complexa e profunda do que aquele capítulo de “Um Estadista do Império”17 (Gláucio Veiga).
O advogado Gláucio Veiga, dedicou mais de cinco anos de estudos para consultar arquivos no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Tais pesquisas intencionavam analisar a “crise de braços”, fator que – em razão das leis de proibição do tráfico negreiro internacional – ameaçava a agroindústria açucareira no Brasil Imperial. A propósito, nos estudos de Loureiro (1989) há dados também que permitem compreender a rota percorrida pelo navio negreiro que deveria chegar à Amazônia transportando 50 negros apreendidos em São Mateus e Sirinhaém, para trabalharem na colônia de Itacoatiara.
Não obstante isso, um fato de ampla repercussão entre as autoridades brasileiras e do exterior foi sobre um palhabote, navio veleiro de dois mastros, que, em 11 de outubro de 1855, ancorou no litoral Pernambucano, município de Sirinhaém, com uma carga de escravos africanos, oriunda de Angola.
Ao tornar-se público, esse fato ficou historicamente registrado sob a denominação de o “desembarque de Sirinhaém”. Estamos diante de um acontecimento ocorrido sob a lógica do mercado interno articulado a interesses internacionais, envolvendo famílias da aristocracia em Pernambuco, entre outros segmentos políticos e religiosos com projeção nas atividades do comércio negreiro, cujo carregamento de africanos seria destinado aos senhores de engenhos da região.
Através dos estudos de Veiga (1977), registram-se dados que inferem sobre esse episódio. O autor destaca que, após desembarcar o Sr. Augusto Cesar de Mesquita, capitão do palhabote, tendo por missão localizar a casa do Coronel Gaspar de Menezes Vasconcelos de Drummond, no engenho Trapiche, para, assim, comunicar-lhe sobre a chegada de 162 africanos, sem ter ciência de que estava no endereço errado.
O Coronel Gaspar de Menezes Vasconcelos de Drummond, delegado de Sirinhaém, encontrava-se afastado do cargo por questões de saúde, mas ao receber a notícia manteve o capitão do navio em sua residência até o outro dia, conforme relatou em sua exposição a respeito do desembarque de Sirinhaém:
Omitiu o Cel, Menezes nesse ofício que o Capitão Mesquita o havia procurado no dia 11 de outubro, fato este que, posteriormente, tornaria público na “Breve Exposição”. O Cel, Menezes, por conseguinte, tomou conhecimento da existência do navio negreiro no dia 11, pela própria boca do comandante, Cap. Mesquita, jamais às 8 (oito) horas da noite do dia 12 e por intermédio de dois moradores. Se o Cel. Menezes somente tivesse conhecimento da existência do palhabote às 8 horas no dia 12, por que motivo, após conversar no dia 11 com o Cap. Mesquita, mandou chamar seu filho Antônio Drummond? Na “Breve Exposição” se diz que “nesse mesmo dia 12 de outubro de 1855, ao meio-dia pouco mais ou menos, tendo chegado o dito Dr. Drummond à casa de seu pai, o Coronel Menezes, depois de já haver desaparecido dali o Capitão do palhabote […] (Veiga,1977, p. 50).
A chegada do navio negreiro em águas territoriais brasileiras era a continuidade do tráfico de seres humanos escravizados, a serviço do sistema econômico exploratório, à revelia da lei. Visto que a Inglaterra proibia o comércio internacional de escravos, de acordo com a lei Bill Aberdeen, promulgada em 1845.
A historiadora Beatriz G Mamigonian (2000), autora de “Africanos Livres: abolição do tráfico de escravos no Brasil”, argumenta que:
A proibição da entrada de escravos no Brasil foi regulada por diversas medidas: primeiro, um tratado entre Portugal e Inglaterra, de 1810, limitava o comércio português de escravos às suas próprias colônias e territórios; o tratado de 1815, seguido de uma convenção adicional dois anos depois, reiterava a proibição desse comércio fora das possessões coloniais portuguesas e vetava expressamente aquele conduzido ao norte do equador.
Depois da Independência, o tratado assinado pelo Brasil e pela Inglaterra em 1826, que entrou em vigor em março de 1830, proibiu todo o comércio de escravos para o Brasil; em seguida, a Lei de 7 de novembro de 1831, que confirmava a proibição, declarava livre todos os escravos que entrassem no país e impunha pena aos que participassem do tráfico; por fim, a lei conhecida como Eusébio de Queirós, de setembro de 1850, voltou a proibir a importação de escravos e estabeleceu novas normas de repressão, passando à Auditoria da Marinha a competência para o julgamento dos casos. Cada uma dessas medidas veio associada a procedimentos para emancipar as pessoas encontradas a bordo dos navios apreendidos ou desembarcadas ilegalmente.
Eram protocolos complexos para verificar as circunstâncias da importação, julgar o direito das pessoas escravizadas à liberdade e auferir-lhes, quando fosse o caso, o novo estatuto (Mamigonian, 2000, p. 06).
Além dessas medidas jurídicas, o Cônsul Cowper, representante inglês em Pernambuco, acompanhava os acontecimentos, solicitando rigor das autoridades brasileiras acerca do criminoso negócio. E também informava à Coroa Britânica através dos relatórios, o que levou a exoneração de autoridades públicas daquelas localidades.
Diante do exposto, a denominada “acefalia” administrativa de Sirinhaém, tornou insustentável a permanência no cargo do Presidente da Província, José Bento e Antônio de Vasconcelos Menezes de Drummond. O filho do Coronel Drummond fora recolhido à prisão, pelo Auditor da Marinha, Dr. Luiz Carlos de Paiva Teixeira, em novembro de 1855.
O desconhecimento do Capitão Augusto Cesar de Mesquita sobre a baía de Sirinhaém, o fez chegar à residência do Coronel Gaspar de Menezes Vasconcelos de Drummond. Todavia, o Capitão do palhabote tinha por propósito se comunicar com o Coronel João Manoel de Barros Wanderley, para anunciar sobre a chegada do carregamento de africanos livres.
É preciso dizer logo na entrada ao leitor que “africano livre” foi, antes de mais nada, vítima de um eufemismo jurídico, pois se trata de expressão tipicamente ideológica que esconde uma realidade bem diversa da enunciada. Pois, como demonstrado à exaustão, os africanos livres eram submetidos a um regime de trabalho forçado, com o suposto objetivo de educá-los para a liberdade, um longo aprendizado de catorze anos, em tese, mas que na prática, de modo sistemático, ultrapassava essa marca, sobretudo para aqueles empregados no setor público. A própria concepção de liberdade que se procurou impor aos africanos representava uma afronta aos valores que conheceram lá do seu lado do Atlântico. Liberdade para os africanos era pertencer a uma comunidade, a uma linhagem, no interior da qual, a cada fase do ciclo da vida, se submetia.
A liberdade que se impôs aos africanos resgatados do tráfico no Brasil e outras regiões do continente americano era de outra natureza e tinha dois componentes axiais: a mercantilização da força de trabalho – e não mais do trabalhador enquanto corpo escravizado – e a colonização da mente pela cristianização e outras formas de pensamento e comportamento, um artifício de reeducação semelhante ao que se fazia com o escravo. Esse era o plano.
Na prática, o que se verificou foi o consumo voraz de uma mão de obra baratíssima posta à disposição de arrematadores privados e do Estado, e este, ao mesmo tempo que controlava a distribuição desses trabalhadores, se servia deles em instituições públicas, obras e projetos de interiorização e modernização através do país” (Reis, In: Mamigonian, 2000, p. 03).
A rota percorrida pelo navio com a “mercadoria” deveria chegar à Amazônia, e talvez teria realizado quarentena em Belém, na Província Pará. Dada a importância desses fatos para a presente pesquisa, esta hipótese tem sido testada em contatos com o Arquivo Público do Estado do Pará, para investigar se há registros documentais referentes aos tais africanos livres.
De acordo com Mamigonian (2000), os africanos foram enviados ao Amazonas na condição de livres e emancipados. Pesava a acusação britânica a respeito dos africanos entregues à Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas de que os eles sofriam maus tratos na Colônia de Serpa. Além da pressão sofrida pelo Governo brasileiro para emitir as cartas aos africanos emancipados.
A pesquisadora ressalta a insistência britânica do ministro William Christie, representante da Grã-Bretanha no Brasil, entre 1860 e 1863, para que os africanos livres da Companhia de navegação tivessem o estatuto igual ao dos africanos “emancipados”. Pois só conquistavam a chamada “emancipação” após catorze anos de serviços obrigatórios, sob o risco de voltarem a ser reescravizados mediante qualquer problema considerado mal comportamento.
Os estudos historiográficos da referida professora, especialista no assunto dos africanos livres, revelam que a pressão diplomática do Ministério da Justiça para o Presidente da Província do Amazonas resultou nas cartas de emancipação dos africanos julgados dignos e merecedores, por bons serviços e comportamentos. As informações trocadas entre o Império e a Província revelavam muitos africanos servindo o Amazonas por incontáveis anos, mas as datas da sua emancipação eram desconhecidas. Observe a figura 4, em anexo.
Neste sentido, o Aviso Imperial expedido ao Presidente da Província do Pará, em 1856, comunicava a chegada dos africanos na Província do Amazonas, como veremos segundo a transcrição a seguir.
Ministério dos Negócios da Justiça, Rio de Janeiro 30 de setembro de 1856
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Tendo nesta data expedido avisos aos presidentes da Províncias da Bahia e Pernambuco, para cada um deles mandar entregar ao comandante do vapor Solimões da Companhia Amazonas, vinte e cinco africanos dos apreendidos em São Mateus e Serinhaem, afim de serem todos os cinquenta empregados nos serviços das colônias da mesma companhia assinando o referido termo de responsabilidade: Assim o comunica a Vossa Excelência para sua inteligência, e para que, de acordo com o presidente da Província do Amazonas, faça por tais africanos sob a vigilância de alguma autoridade.
Deus guarde Vossa Excelência
José Tomás Nabuco de Araújo Filho
Ao Presidente da Província do Pará
Em janeiro de 1856, ano subsequente a apreensão dos escravos angolanos em Sirinhaém, ocorreu a captura em alto mar do navio norte-americano, Mary E Smith, em São Mateus, Espírito Santo. A escuna transportava em condições sub-humanas africanos escravizados com origem no Congo, dos quais muitos deles vieram a óbito, como prova cabal da continuidade do infame tráfico negreiro, apesar das leis estrangeiras e em vigor no Brasil considerarem a atividade ilegal.
A respeito dos africanos livres, a pesquisa também identificou fonte bibliográfica disponível à consulta. Trata-se da obra de Loureiro (1989), intitulada “O Amazonas na época Imperial”. Para o autor:
Em 1857, o Presidente Angelo Tomaz do Amaral (3) noticiava que a Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas, pertence ao barão de Mauá, recebera, pelo Aviso de 30/12/1856, do Ministério da Justiça, 50 negros apreendidos em São Mateus e Serinhaem, para trabalharem na colônia de Itacoatiara, instalada por aquela empresa. Do total inicial, aqui só chegaram 34, pois 2 haviam falecido na viagem. Seriam eles os últimos africanos entrados no Brasil, conforme citação de Joaquim Silva, em seus textos didáticos? São dados a esclarecer (Loureiro,1989, p. 222).
A citação acima contém um erro sobre a data do aviso imperial, assinado oficialmente em 30 de setembro de 1856, e não no mês de dezembro como fora registrado. Contudo, tal destaque corrobora com outras fontes documentais, que asseguram ser o Sr. Irineu Evangelista de Souza (Barão de Mauá), o proprietário da Companhia de Navegação da Amazônia, cujos africanos livres foram trazidos para trabalhar na colônia agroindustrial gerenciada por Mauá, no atual município de Itacoatiara-AM.
Na então Província do Amazonas, registra-se, além dos africanos destinados ao Barão de Mauá, a existência de outros africanos livres. A esse respeito, dados apresentados por Loureiro (1989) são enfáticos:
O Presidente Francisco José Furtado relatava (4) a existência de 51 africanos livres, na Província, sendo 34, em Itacoatiara e 12 homens, 2 mulheres e 3 menores, em Manaus, totalizando 17 pessoas, número contestado em outro local do seu relatório, onde é indicado que, na construção da Matriz, trabalhavam 3 índios de Manacapuru, 3 índios velhos do Içana, 1 pardo da Corte e 18 africanos livres, sendo 12 homens, 3 mulheres e 3 menores. Eles exerciam a atividade de sapadores, eram briguentos e insubordinados e faziam “cera”, termo já usado na época, para indicar morosidade proposital, no trabalho. Pelo seu comportamento indisciplinado, a 14 de fevereiro, de 1863, o presidente Sinval Odorico de Moura (5) colocou-os sob tutela da Repartição de Polícia, pois a Diretora de Obras Públicas não possuía os meios necessários(?), para mantê-los na obediência e disciplina. Uma estatística de 1864 (5) revelava a existência de 60 africanos livres, além de 8 menores, que viviam na companhia dos pais, na Província do Amazonas (Loureiro,1989, p. 222).
Tais dados trazidos por Loureiro (1989) identificam a presença de africanos no Amazonas, desconstruindo, assim, a tese da inexpressividade dos negros na região. Dizem respeito, portanto, à estatística que atesta a presença dos trabalhadores africanos e indígenas na construção da igreja Matriz, templo católico da cidade, e os estigmas utilizados em referência aos africanos, “briguentos”, “insubordinados”, que faziam “cera”.
As formas de tratamento dispensadas aos africanos na sociedade colonial evidenciam uma hierarquia na qual os escravizados eram considerados inferiores, excluídos das práticas de cidadania, embora toda riqueza do país tenha passado pelas mãos dos homens e mulheres que tiveram sua força de trabalho submetida às atrocidades análogas à escravidão.
A respeito disso, o pesquisador Claudemilson Nonato dos Santos Oliveira, quilombola, nascido no município de Itacoatiara-AM, em sua tese doutoral defendida em 2019, constrói um verdadeiro tratado ao apresentar um raro e primoroso documento histórico. Dentre outros assuntos, os fatos corroboram com o discurso proferido na Assembleia Legislativa Provincial em 1857, sobre o tráfico de africanos e os africanos livres levados para a Colônia agroindustrial de Itacoatiara, como exposto por Oliveira (2019):
Esses fatos são confirmados em nova Exposição do Presidente da Província do Amazonas (1857), Ângelo Tomás do Amaral do Partido Conservador, que cita que foram confiados à Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas na Vila de Serpa, pelo Ministério do Império, trinta e seis africanos livres dos cinquenta apreendidos em São Matheus e Serinhaém dos quais dois foram a óbito. Portanto os afro-descendentes da Colônia de Itacoatiara, chegaram em 1857, e no mesmo ano sete destes foram batizados pelo Pe. Francisco de Paula Cavalcante Albuquerque na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (CÚRIA,1857). Dos 34 africanos livres da Colônia Itacoatiara sabemos pela documentação eclesiástica os nomes de apenas 07: Paulo, Bernardo, Estevão, Rodolpho, Jeremias, Filizardo e Augusto. Todos apenas com o primeiro nome, sem referência de sobrenome (Oliveira, 2019, p. 46-47).
O fato acima identificado está diretamente relacionado com a origem da Comunidade Quilombola Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, cujos quilombolas estão oficialmente autodeclarados sob a denominação histórica de descendentes dos africanos que posteriormente migraram para o Lago de Serpa. Em alusão à carvoaria instalada no quilombo como fonte de renda, os agentes sociais relatam a forma preconceituosa como algumas pessoas se referem aos negros, inferindo: “no Lago do Serpa só tem preto e carvão”.
Outras fontes arquivísticas informam sobre os africanos livres cujos nomes estão registrados no livro da Cúria Prelatícia de Itacoatiara, datado no mês de junho de 1857 e que atesta se tratar dos sete africanos livres que foram batizados na igreja Católica Matriz de Nossa Senhora do Rosário: todos adultos, homens, tendo como padrinho o Sr. Manoel José de Oliveira.
Posteriormente a isso, ou seja, sobre o destino desses africanos tidos como livres trabalhadores da Colônia agroindustrial de Itacoatiara, pouco se sabe a respeito. Sabe-se, porém, como registrado por Oliveira (2019), que se trata de Paulo, Bernardo, Estevão, Rodolpho, Jeremias, Filizardo e Augusto. Outras informações acerca desses africanos livres ainda é um desafio para a presente pesquisa. Observe as imagens de 5 a 13, em anexo.
1.3 Quilombos do Amazonas: mobilizações político-organizativas
A Amazônia pode ser interpretada mediante diferentes concepções, a saber: “inferno verde”, “santuário ecológico”, “eldorado”, “terra prometida”, ou pela abrangência hiperbólica das suas dimensões, em razão das distintas biodiversidades e sociodiversidades. Assim, há muitas Amazônia dentro de uma mesma Amazônia!
As territorialidades específicas, em diversos contextos, desde as épocas mais longevas, são habitadas secularmente por povos originários e/ou comunidades tradicionais, cujos grupos étnicos agregam diferentes processos sociais de territorialização, “como delimitando dinamicamente terras de pertencimento coletivo que converge para um território” (Almeida, 2008, p. 29). Luta que – para além do antagonismo enfrentado perante os representantes dos agronegócios –, por vezes ainda é fortemente intensificada em face da ausência do Estado enquanto provedor de políticas públicas.
Habitantes do norte brasileiro, ocupando geográfica e estrategicamente espaços no entorno dos rios, florestas e igarapés, esses grupos familiares que compõem uma constelação de unidades sociais específicas, via de regra, enfrentam lutas em defesa dos seus territórios tradicionalmente por eles ocupados. Trata-se de batalhas renhidas contra as vertentes autoritárias do capitalismo, materializadas nos projetos de megaempreendimentos: hidrelétricas, mineradoras, fazendas, serrarias, que, amparados sob a lógica motivada pelo cálculo do lucro, reafirmam-se tais propósitos apoiados nos fadados e retrógrados ideais de progresso.
A respeito dos conflitos e tensões sociais hoje registrados no interior do Amazonas, envolvendo povos originários e comunidades tradicionais, neste aspecto específico, os quilombolas, há que se notar certo descaso quanto a ignorar a presença negra no processo de organização econômico-social da Amazônia, em especial no que diz respeito ao Amazonas.
Não obstante isso, o historiador Arthur Cézar Ferreira Reis, com expressiva produção acadêmica, projetou-se como intelectual ao publicizar suas obras a partir de 1930, como intérprete da Amazônia. Todavia, apesar do prestígio alcançado, a historiografia por ele escrita deve ser lida criticamente, sobretudo, em relação à ausência dos negros na formação da sociedade amazônica.
Disso se deduz que as escolhas teórico-metodológicas de Arthur Cézar Ferreira Reis expressam a exaltação da colonização lusitana que perpassam o pensamento conservador da época. Um ideário apresentado na literatura construída tendo por ênfase as contribuições do heroísmo europeu para o desenvolvimento da Amazônia, em detrimento da subalternidade dos negros para a organização social da região, como assevera o historiador:
Somos povos das américas, fruto sadio e forte da façanha europeia. Resultamos do esforço admirável que os europeus realizaram para completar-se projetando-se por mares e terras que desvendaram ou passaram a desfrutar como resultado da empresa (Reis, 1966, p. 15).
Nesta perspectiva, ainda que os estudos de Arthur Reis tenham como objeto de reflexões os povos indígenas ou faça referência aos negros na Amazônia, identificam-se, no contexto dessas produções literárias, aquelas ideias principais sempre referenciando as narrativas históricas de vencedores europeus. Omite-se, por isso mesmo, o potencial criativamente inerente às condições da diversidade cultural de grupos humanos abrigados na floresta ou tampouco se dá a devida importância às lutas de movimentos organizativos deflagradas ao longo do processo de construção da identidade nacional.
A história contemporânea ao analisar os meandros da organização econômico-social do Brasil, há que situá-la no contexto do projeto colonial, cuja lógica se amparou em prestigiar os brancos e as elites locais, abrindo-se um fosso face ao restante da população. Uma cisão que tende a se agravar na atualidade. Para tanto, faz-se necessário entender o racismo sistêmico, compreendendo-o na dinâmica das relações inerentes à organização econômica, política e social de nossa realidade.
As contradições que daí resultam, certamente convertem-se num problema de ordem estrutural equacionado no âmbito da sociedade brasileira. Visto por esse prisma, contrário a um fenômeno patológico, o racismo estrutural, conforme Silvio Almeida (2021), é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade.
Isso reforça o fato de algumas sociedades alicerçadas na estrutura da discriminação, ao privilegiar as pessoas brancas em detrimento a desfavorecer pessoas negras ou indígenas, já adiciona elementos que contribuem para aprofundar o significado do racismo estrutural. A esse respeito, Cida Bento enfatiza: no momento que uma cultura se impõe a outra, ela estabelece um lugar de poder, colocando sua voz sobre as dos subjugados e criando um padrão para pensar o branco, o indígena, o negro. Este processo torna-se, por fim, um estereótipo homogeneizador dos papéis sociais que os indivíduos têm a cumprir na sociedade. O que acaba por assumir paradigmas estruturantes elaborados hierarquicamente ao reforçar as desigualdades e os conflitos raciais.
________________________
8 O “Mito de origem”, considerado nesta pesquisa, está relacionado com a origem e formação, utilizado como narrativa pelos quilombolas para explicar a formação da comunidade do Barranco de São Benedito em Manaus e Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara – AM.
9 Eduardo Gonçalves Ribeiro foi um político brasileiro e governador do Amazonas, de 02 de Novembro de 1890 a 05 de Maio de 1891 e de 27 de Fevereiro de 1892 a 23 de Julho de 1896, que era um homem negro, nasceu no Estado do Maranhão, suas principais realizações foram o início das obras do Teatro Amazonas, a construção do Reservatório do Mocó, da Ponte de Ferro da Rua 7 de Setembro, do Palácio da Justiça, dentre outras obras importantes para a organização do centro histórico da cidade de Manaus.
10 Certidão extraída do Registro Especial, Títulos e Documentos do Livro B número quarenta e três (B Nº 43), Manaus, 19 de Agosto de 1963.
1 O Jornal maranhense que provavelmente circulou em São Luiz entre os anos de 1880 e 1909. O referido Jornal cita o desembarque no Maranhão de 264 passageiros, dentre eles o Sr. Felippe Beckman, e um escravo de nome Olegario. Todavia, não podemos afirmar que o referido passageiro seja o mesmo Felippe Beckman, que residiu em Manaus, amigo da família Fonseca, em razão de nas constituições familiares haver homens e mulheres escravizados e também pessoas livres, os quais tinham o mesmo sobrenome. No caso específico da família Beckman, um desafio posto para este trabalho, é saber quais dos Beckman eram escravizados, e quais deles eram senhores de escravos. Na citação específica, estamos nos referindo à publicação do Jornal Pacotilha, em 28.02.1889, p. 03.
12 SANTOS, Maria de Nazaré Vieira dos – 83 anos. Entrevista 01 [19 de Abril de 2017]. Comunidade do Barranco de São Benedito, Manaus, Amazonas. Entrevista concedida a Vinícius Alves da Rosa.
13 A primeira geração estabelecida em Manaus, no bairro Praça14, era procedente de diferentes municípios do Maranhão, a saber: Alcântara, Codó, Santa Inês, Viana e Turiaçu.
14 Segundo Mário Ypiranga Monteiro (1983, pgs.234-235): “A história é longa e se prende ao movimento dos Beckmann do Maranhão. No século retrasado, aí por 1799, elementos da família Beckmann migraram para o Amazonas, fugindo do Maranhão, a exemplo de centenas de outras pessoas e foram residir num local aprazível, espécie de bosque, à ilharga do igarapé secundário que desagua no igarapé de São Raimundo, antigamente mais conhecido por Teiú. Com o tempo o igarapezinho passou a chamar-se do Beckmann e hoje se pronuncia popularmente Bequemão e Bequemoa. Verificou-se com esse nome o mesmo fenômeno que se daria com outros, a mulher do Beckmann ficou conhecida por Bequemoa aportuguesado”.
15 A criação do Decreto de lei amparou o Governador Eduardo Ribeiro à contratação de artistas, os quais provenientes de Portugal, Itália, França, chegam a Manaus para trabalhar nas obras públicas em execução na cidade.
16 LIMA, Deusdete Fonseca – 87 anos. Entrevista 02 [26 de Novembro de 2016]. Entrevista realizada na residência da entrevistada, Manaus, Amazonas. Entrevista concedida a Vinícius Alves da Rosa.
17 A citação foi extraída do Prefácio do livro O Desembarque de Sirinhaém, de autoria de Gláucio Veiga.
Continua na próxima edição…
*Vinícius Alves da Rosa é Quilombola do Morro Alto/RS, mestre, professor e teólogo, tem sua formação acadêmica pautada em uma sólida jornada de conhecimento. Sua expertise é ampliada por especializações em Metodologia do Ensino de Filosofia, em Ciências da Religião. Complementou sua trajetória com um Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação e, por fim, obteve seu título de Doutor em Ciências da Religião pela (UMESP).
Views: 6