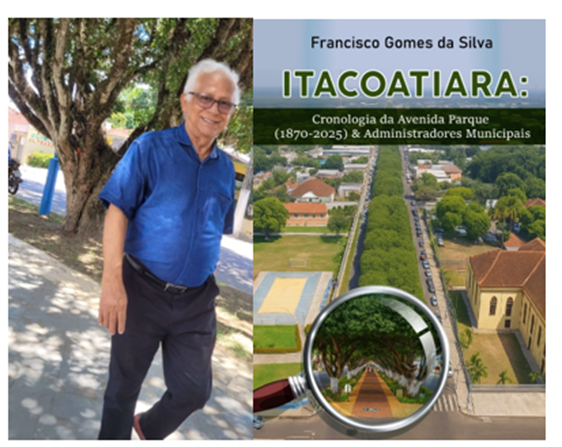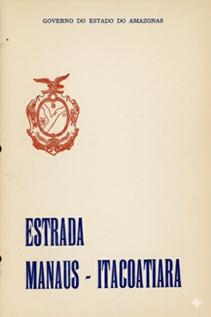*Vinícius Alves da Rosa
Um estudo da comunidade do barranco de são benedito, em Manaus, e do sagrado coração de jesus do lago do Serpa, em Itacoatiara – Am
Continuação…
2 A RELIGIOSIDADE POPULAR: UMA CATEGORIA ANALÍTICA
Ora, o que parece passar despercebida é a característica básica da nossa religiosidade de então: justamente o seu caráter especificamente colonial. Branca, negra, indígena, refundiu espiritualidades diversas num todo absolutamente específico e simultaneamente multifacetado21.
(Laura de Mello e Souza)
Este capítulo versa sobre a religiosidade popular e, compreendendo-a como categoria analítica, estabelece diálogo com autores especializados neste campo de discussão. Assim entendido, as discussões se voltam para as diferentes tradições vividas por agentes sociais com representação religiosa nos quilombos. Nota-se que tais práticas fogem às regras administrativas e, por isso mesmo, ultrapassam aqueles habituais controles eclesiásticos da religião oficial. Neste sentido, abordar-se-á a religiosidade com ênfase nas reflexões críticas acerca das narrativas dos distintos agentes sociais em suas diversas vertentes simbolicamente presentes na vida cotidiana a se expressar por via das crenças, das linguagens. Enfim, das sacralidades por vezes legitimadas pelo imaginário popular.
Trata-se de dar especial destaque àqueles cenários multifacetados, ou seja, configurados por concepções e estruturados pelo hibridismo, fato que permite à presente pesquisa expor estudos, resguardando-se o ineditismo como viés acadêmico no campo religioso. Por essa via, as Ciências da Religião certamente contribuirão em face da formatação de um instrumental teórico-metodológico de modo a possibilitar novas produções epistêmicas. Portanto, esses assuntos compõem o repertório interpretativo exposto nos subitens posteriormente em destaque.
2.1 A religiosidade popular e algumas considerações
Quando Deus retornar, teremos que ir ao seu encontro primeiro bailando, antes de poder defini-lo na doutrina 22.
(Harvey Cox)
A religiosidade popular como objeto de análise pode ser estudada através de várias vertentes fundamentais que marcaram as pesquisas de alguns intelectuais identificados com suas respectivas áreas do saber, quais sejam: teólogos, cientistas sociais, historiadores, antropólogos, dentre outros. Porém, a categoria em tela, consagrada no campo das Ciências da Religião, ainda provoca debates no ambiente acadêmico.
Faz-se premente, em particular nas Ciências da Religião, postular investigações voltadas para o rigor da cientificidade acerca dessa categoria perscrutada, em razão do “termo, que parece indicar um quadro único, na verdade expressa vários sentidos associados através de conotações recíprocas” (Cesar, 1976, p. 7).
Segundo Cesar (1976), as primeiras noções sobre a terminologia popular vêm desde meados do século XIX, tendo por significado algo relativo a supersticioso, grosseiro, curioso ou vulgar. Coube aos etnólogos folcloristas, que discutiram a categoria, romper com o sentido pejorativo. A partir de então pode-se dizer que o
[…] termo popular por si só representa certa complexidade em sua definição e um caráter exclusivo para designar as classes sociais subalternas, que provêm das camadas menos favorecidas da sociedade. Representa, também, em seu conjunto, as manifestações coletivas, linguagem e religiosidade de um povo. Tal complexidade tem uma dimensão histórica resultante da hibridação da fé com a cultura de um povo. Sempre ressurgindo como resposta a cada momento histórico e a cada geografia (Reis, 2007, p. 68).
De acordo com Reis, a categoria popular está acompanhada de inúmeros significados, o seu sentido se alinha a ideia de povo, sujeito que cria e recria suas próprias manifestações culturais. Trata-se, neste sentido, de um mundo diverso e ao mesmo tempo singular, sendo a representação de um grupo ou de uma nação.
Todavia, defende a autora supracitada que a noção de religiosidade popular não deve ser entendida unicamente pelo viés do povo, ou seja, é tautológico pensar que a religiosidade de um povo é popular. Para Reis, a religiosidade popular pode ser definida segundo o conceito de cultura popular, uma vez que ambas as categorias estão relacionadas. Por exemplo, lembra a autora que, no Brasil:
[…] em cada região, a propagação da religiosidade será incorporada de acordo com a cultura do povo, e o resultado da devoção aos santos atenderá exclusivamente às questões de ordem secular. Ao elegerem os seus padroeiros e suas respectivas manifestações de devoção, o povo reforça também a sua crença cultural (Reis, 2007, p. 70).
Waldo Cesar, autor do texto “O que é ‘popular’ no Catolicismo Popular”, em 1976 já problematizava a dificuldade em definir a categoria popular na área dos estudos da religião. Esse campo de pesquisa – religiosidade popular – assegura o estudioso que se trata de um desafio à Sociologia, à Teologia, à Etnologia e às demais áreas do conhecimento. Em face de possíveis interpretações acerca do termo, Cesar lança a seguinte questão quando infere: o que é o popular no catolicismo popular? A priori, o interesse do autor seria entender o catolicismo a partir desta categoria, a respeito da qual poderíamos estender a pergunta para outras religiosidades brasileiras a propósito daquelas, por exemplo: de matrizes africanas, do pentecostalismo, do xamanismo, entre outras.
Sobre essas religiosidades brasileiras, Reis (2007) aponta aspectos a serem levados em consideração e que vão desde as expressões corporais até os rituais; algo de suma relevância para a comunicação com o sagrado. Desse modo, “o conjunto de representações que caracterizam a religiosidade popular é resultado do hibridismo cultural e religioso a que o Brasil foi submetido […]” (Reis, 2007, p. 68). Nesse diapasão, diria o antropólogo Darcy Ribeiro, misturaram-se o Catolicismo Ibérico, o Xamanismo, o indígena e o mundo mágico Africano.
O professor Raymundo Heraldo Maués (2005) pesquisador da religião na Amazônia, também trabalhou com a categoria popular, tornando-se conhecedor da diversidade religiosa cabocla22, adornada simbolicamente por seus mitos, crenças, entre outras práticas. Ao estender seus estudos para a religiosidade indígena, o autor pondera se tratar de algo ainda mais complexo, levando-se em conta o mundo cultural-religioso dos povos da Amazônia.
A respeito da complexidade que perpassa o entendimento sobre certas categorias analíticas intrínsecas à compreensão de determinadas realidades, Cesar (1976) ajuíza:
Dado o seu uso corrente, palavras, como popular, povo, tradição, folclore, mentalidade popular […] criam alguns problemas quando se trata de precisar o lugar e a função de qualquer categoria social e cultural que empregue um destes termos” (Cesar, 1976, p. 5).
Nesse sentido, o termo popular é empregado para entender os encantados da Amazônia, embora o uso da categoria não pretenda simplificar essa crença, pois, ao contrário, trata-se de uma tentativa quanto ao esforço empreendido para compreender essa realidade como o fez Maués ao longo de seus estudos na região amazônica (2005).
De acordo com Brandão (2007), a religiosidade popular recria símbolos, rituais, práticas e crenças da religião erudita, mas com ressignificações próprias. Ao passarmos para o campo da religiosidade popular, entende-se que se trata de manifestações locais, pelas quais se incorporam elementos de sincretismo e matrizes, como a veneração de santos populares, a sacralidade de objetos, rituais, divinação e/ou a busca de soluções de males do cotidiano.
Outras categorias são utilizadas com finalidades explicativas, tais como: hibridismo, bricolagem e amalgamação, devendo elas serem exploradas como modo de compreender a diversidade cultural ou popular. Trata-se, enfim, de uma preocupação antropológica porque leva em conta as dimensões intrínsecas aos aspectos simbólicos da região.
Partindo desse pressuposto, a formação da cultura no Brasil passa necessariamente pelas três matrizes étnicas: indígena, africana e europeia. Resguardando-se as peculiaridades subjacentes a essa tríade, entende-se que tais realidades devem ser analisadas sob o prisma daquelas categorias interpretativas. Tais matrizes étnicas, compõem, portanto, a junção de tradições específicas que resultou em um amálgama interposto pelo fim da hegemonia do Cristianismo Católico, ou seja, espraiando-se tanto para os contextos urbanos quanto rurais, a religiosidade brasileira é constituída pela bricolagem.
Segundo o sociólogo jamaicano Stuart Hall:
[…] o hibridismo, o sincretismo e a fusão entre tradições culturais diferentes produzem novas formas de cultura apropriadas à modernidade tardia, mas possui custos e implica no relativismo, na perda de tradições locais e no aumento dos fundamentalismos (Hall, 2000, p. 22).
Hall (2000) é um renomado autor do mundo contemporâneo, responsável por conceituar epistemologicamente o termo hibridismo o qual fora caracterizado por culturas cada vez mais mistas. Ele considera, neste sentido, que estas práticas híbridas podem ser identificadas também no âmbito da religiosidade.
A respeito da compreensão acerca do que vem a ser o termo bricolage, de acordo com o antropólogo Claude Lévi-Strauss, na análise do pensamento mítico:
[…] em nossos dias, o bricoleur é aquele que trabalha com suas mãos, utilizando meios indiretos se comparados com os do artista. Ora, a característica do pensamento mítico é a expressão auxiliada por um repertório cuja composição é heteróclita e que, mesmo sendo extenso, permanece limitado; entretanto, é necessário que o utilize, qualquer que seja a tarefa proposta, pois nada tem à mão. Ele se apresenta, assim, como uma espécie de bricolage intelectual, o que explica as relações que se observam entre ambos (Lévi-Strauss, 1989, p. 32).
Cabe destaque à obra O Pensamento Selvagem, em que Levi-Strauss referindo-se à inépcia dos “primitivos”, está motivado a desenvolver o pensamento abstrato, mesmo que os exemplos demonstrem ser os nomes abstratos não uma riqueza, tampouco se trata da característica exclusiva das línguas chamadas civilizadas. Desta forma, a categoria bricolage tem sido utilizada em suas implicações conceituais para investigar cientificamente as diferentes religiosidades populares, construídas e ressignificadas em respectivos lugares sagrados, místicos, como as práticas ou cultos das diferentes espiritualidades, indígenas, afro, católicas, entre outros.
Quanto à categoria amalgamação, o pesquisador Eduardo Galvão, em sua tese intitulada “Santos e visagens: um estudo da vida religiosa de Itá, Amazonas”, resultado do trabalho de campo realizado na Amazônia, destacou:
O caboclo de Itá, como da Amazônia em geral, é católico. Não obstante, sua concepção do universo está impregnada de idéias (sic) e crenças que derivam do ancestral ameríndio. Essa maneira de ver o mundo, não representa o simples produto da amalgamação de duas tradições, a ibérica e a do indígena. Essas duas formas supriam o material básico do que envolveu a forma contemporânea da religião do caboclo amazônico (Galvão, 1955, p. 00, grifo do autor).
Galvão (1955) analisou, do ponto de vista antropológico, as questões da diversidade religiosa e cultural presentes na Amazônia, constatando práticas do catolicismo popular, bem como do culto aos santos. O trabalho de fôlego, dada à pertinência com que estudou a religiosidade daqueles moradores, buscou saber sobre as crenças em seres sobrenaturais. Com isso, o pesquisador observou a composição étnica e os resultados dos processos coloniais a respeito dos quais derivou um modelo cultural.
Oriundas da dinâmica entre as múltiplas identidades religiosas, pelo fato de se entrecruzarem, a tese, ora em desenvolvimento, tem como objetivo central investigar a religiosidade popular, pelas experiências pessoais ou vivências coletivas, a partir das fronteiras sociais, culturais, históricas e políticas. Nesta perspectiva, de forma geral, doravante far-se-á uma análise conceitual acerca da religiosidade popular na região amazônica.
Imbuídos desse propósito, recorremos ao artigo “Entre a bricolagem moderna e o hibridismo pós-colonial: um caso de religiosidade amazônica”24, que tem como autores Emerson Sena da Silveira e Dayana Dar’c e Silva da Silveira (2015). Ao trazerem os conceitos acerca do alcance hermenêutico dos termos bricolagem moderna e hibridismo pós-colonial, os mesmos se referem a um caso de religiosidade na Amazônia. Por via dessa reflexão, é possível diferenciar os traços característicos do catolicismo organizacional no continente europeu, fundamentado pela ortodoxia institucional e no magistério cristão sob a competência dos teólogos da religiosidade praticada pela cristandade brasileira com seus aspectos notadamente multifacetados.
Na mesma perspectiva de ideias, Laura de Mello e Souza afiança:
A partir dos estudos recentes, sabe-se quão fortemente impregnada de paganismo se apresentou a religiosidade das populações da Europa moderna, e quantas violências acarretaram os esforços católicos e protestantes no sentido de separar o cristianismo e paganismo. O cristianismo vivido pelo povo caracterizava-se por um profundo desconhecimento dos dogmas, pela participação na liturgia sem a compreensão do sentido dos sacramentos e da própria missa. Afeito ao universo mágico, o homem distinguia mal o natural do sobrenatural, o visível do invisível, a parte do todo, a imagem da coisa figurada. (Souza, 1986, p. 90-91).
Neste sentido, o catolicismo europeu organizado institucionalmente tem diferenças essenciais em relação as características específicas do cristianismo vivido pelo povo em terras brasileiras. Isto se deve provavelmente ao desconhecimento dos dogmas, sacramentos e doutrinas com fundamentos teológicos propagados pela igreja, estando as religiosidades no Brasil voltadas às práticas do universo mágico. Assim entendidas, as práticas religiosas vividas pelo povo brasileiro integram os diferentes sistemas de crenças, na interface de várias simbologias vinculadas aos rituais de afirmação, procissões, pagamento de promessas, superstições, culto aos santos, mesclados nas concepções mágicas de mundo.
Nesse contexto, será analisada a religiosidade popular em suas diversas vertentes, pois oferece uma leitura da tradição da igreja católica, cujas práticas são habituais e frequentemente exercidas no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, localizado na Praça 14 de Janeiro, bairro central da cidade de Manaus.
2.2 A religiosidade popular e suas diferentes vertentes no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, em Manaus
Ela também entendia do riscado25
(Hildamira Adjiman Silva)
É importante salientar que as pesquisas produzidas para discutir o termo popular admitem as limitações e dificuldades neste campo de trabalho, sobretudo quando se pretende fornecer explicações a respeito do que o vocábulo designa. Por motivos óbvios, aqui, particularmente, nos propomos estudar o sentido atribuído à categoria em questão, trazendo-a para o centro de discussões que envolvem as simbologias pertinentes às comunidades quilombolas.
Há, por assim dizer, o enfrentamento de desafios que perpassam a tessitura desta tese, cujo dever acadêmico se impõe no sentido de conceituar os fenômenos religiosos presentes nos quilombos com vistas a descrever as ritualísticas das diferentes tradições religiosas. Em primeiro momento, no contexto da unidade social autodesignada quilombo do Barranco de São Benedito.
Neste espaço de reflexão, elencaremos as expressões da religiosidade popular no quotidiano da comunidade quilombola urbana no município de Manaus. Os dados construídos são resultados da observação participante, resultantes, portanto, da observação direta e sistematizada, tendo como objeto de análise os eventos coordenados pelos quilombolas, a partir de 2016, bem como os registros realizados em diário de campo, as conversas e entrevistas gravadas com os interlocutores empiricamente envolvidos no presente estudo.
Isto implicou na convivência com os quilombolas, nas relações com os mediadores e interlocutores. Os mediadores – que internamente articulam as estratégias políticas na comunidade – possibilitaram chegar aos entrevistados. Quanto aos interlocutores, estes proporcionaram construir elos com outros agentes sociais, permitindo-nos interagir, dialogar, ouvir e receber informações relacionadas às distintas práticas religiosas.
Sobre o sincretismo verificado em meio às práticas religiosas percebidas na região amazônica, Emerson Silveira & Dayana Silveira (2015), citando Maués (1990), assinalam que:
Das muitas práticas religiosas existentes, as da pajelança cabocla são muito difundidas em toda a ilha. A pajelança cabocla, herança indígena, e decorrência de um vasto sincretismo de práticas e crenças de distintos povos, definida como um conjunto de práticas presentes no território amazônico composta, em graus variáveis, de elementos da religiosidade indígena, afro-brasileira e católica, adquirindo características particulares dependendo do contexto histórico e social em que está inserida (Silveira, 2015, apud Maués 1990, p. 71).
Entrementes, na Amazônia, além da biodiversidade que a constitui, há também outras vivências sociais, culturais, étnicas e espirituais nas diferentes tradições praticadas em locais religiosos, decorridas das heranças indígena, católica, protestante e afro-brasileira, com características notadamente sincréticas.
Para o antropólogo Sérgio Ferretti:
O Tambor de Crioula é uma atividade ritual, praticada por determinada camada social, como divertimento e pagamento de promessas. Sua pesquisa permite verificar uma expressão de resistência cultural dos negros e seus descendentes, no Maranhão, que até o presente ainda não foi devidamente analisada pelos estudiosos (Ferretti, 2002, p.15-16).
O Tambor de Crioula é um elemento da cultura popular maranhense, expressão que começou a ser realizada pelos africanos e descendentes quando de suas chegadas ao Brasil. Isto pode ser observado no Maranhão, mais especificamente nas cidades de São Luís, Alcântara, Rosário, Codó e em outras regiões. Na Comunidade Quilombola do Barranco de São Benedito, foi apresentado em caráter religioso desde as primeiras festas em honra a São Benedito26, realizadas no final do século XIX, cuja representação simbólica era referendada nos festejos do mastro votivo.
A prática do batuque é uma expressão e denominação genérica referente às manifestações afro, por integrar instrumentos de percussão, extensivos às danças, ao jogo de capoeira. Entre outras lutas e/ou disputas, tais práticas se dão também na esfera da religiosidade dos povos tradicionais de terreiro, sambas e batucadas.
Nessa perspectiva:
[…] outros sentidos latejavam dentro dos batuques. Para seus praticantes, podia ser uma fonte de recuperação das energias desgastadas depois das longas e pesadas jornadas de trabalho; podia ser uma maneira de desembaraçar os domingos e dias santos para realizar seus ritos religiosos, celebrar deuses e orixás; reis, reisados e santos protetores (Abreu, p. 21, 2014).
Em Manaus, no bairro Praça 14 de Janeiro, onde está situado o quilombo urbano, os ritos religiosos são marcas incontestes das antigas práticas diversificadamente celebradas e registradas atualmente nas memórias dos quilombolas. Por via das narrativas, os agentes sociais relembram fatos sobre a existência das rezadeiras, das visagens, das-mães-de-santo, as quais participavam dos rituais e, tendo-as como tradições de fé, com esses ritos conviviam sem quaisquer problemas junto à comunidade.
Tais fatos podem ser verificados no relato da quilombola Hildamira Adjiman Silva 27
Dona Maroca era esposa do Felippe Beckmam, ela fazia trabalho aí na casa dela, fazia os banhos, só vinham aquelas pessoas de dinheiro, vinham naqueles carros de luxo que chamavam, aí, elas tomavam o banho ali, quando saíam já iam com a roupa trocada, por isso que os quintais, aqui, aparecem muita visagem, por causa dos banhos que ela fazia. Aí, tu já viu, a entidade, tinha um tajá, que chamavam “pinto-da-meia-noite”, só que eu não conheci esse tajá, quando dava meia noite ele piava, aí tinha um senhor que morou aqui, o primo da Alice do doutor Paiva, ele via uma tocha de fogo aí no quintal. O Felippe Beckmam, ele festejava São Benedito, no sábado de aleluia, porque foi uma promessa que ele fez, ele adoeceu, aí, ele fez essa promessa com São Benedito, pra iniciar no sábado de aleluia, por isso, quando eu ia pras novenas de São Benedito eu alcancei a Bárbara, depois da Bárbara já veio a Lourdinha, da Lourdinha a Cimar, da Jacimar a Jamily, mas a finada Paula eu não lembro. O papai era mais chegado aí, por causa de ser maranhense, ele sempre considerou a família Fonseca como parente, então, por isso que eu tenho essa amizade com os Fonseca, porque já vem com ancestrais, eu tenho que continuar, porque ele tinha muito apego. Então, quando eles tinham qualquer problema, ele era tipo assim, um conselheiro, era padrinho da Guiomar e do Nestor, de crisma. Deus o livre, ele tinha uma consideração com essa família Fonseca, e eles com ele, tanto que o finado Manoel, pai da tia Cosma, chamava pro papai de marujo, porque ele era marinheiro da alfândega, e ele chamava pro finado Manoel de Manduca, eles eram assim. ( Hildemira Adjimam Silva, 80 anos. Entrevista 03 [09 de Dezembro de 2021])
Em alusão aos membros da família Beckman – personagens importantes na história da organização do quilombo do Barranco de São Benedito –, segundo registro, em Manaus, da edição do Jornal do Comércio publicada no ano de 1928, na coluna dos aniversariantes, consta o nome do Sr. Felippe Nery Beckman.
O fato corrobora as narrativas dos moradores idosos da comunidade quilombola, visto que eles sustentarem que o Sr. Beckman trabalhava como profissional da construção civil. Sendo mestre de obras, mantinha relações de amizade estabelecidas com os políticos locais. Todavia, tratando-se de um homem negro, isto já pressupunha certo status social diferenciado para a época.
Na construção social da identidade coletiva por meio das narrativas dos entrevistados é possível identificar o sentimento de pertença ao território tradicionalmente ocupado. Trata-se de práticas religiosas que, transportadas do passado, na atualidade conferem aos terreiros novas dinâmicas de pertencimento, de crenças e celebração dos ritos a cultos como o batuque da mãe Efigênia, da mãe Marina, e o terreiro da mãe Clara; expressões religiosas que incorporavam e incorporam na atualidade os elementos de uma ancestralidade.
A quilombola Hildamira Adjiman Silva, assegura que a Sra. Maroca Beckman, era uma sacerdotisa da religiosidade de matrizes africanas; alguém que realizava atendimentos religiosos em sua residência, situada no bairro Praça 14, cujos clientes eram pessoas de um alto poder aquisitivo. As referências aos “banhos”, estes geralmente são usados em sessões de descarrego e purificação. Feitos com ervas regionais, os banhos têm por missão limpar; tirar as impurezas do corpo, tendo ainda por propósito o fortalecimento espiritual, pois evoca coisas boas, boas energias e bons fluídos.
Nesta perspectiva, há também referência de situações relativas ao aparecimento de visagens comumente relatadas pelos quilombolas. As aparições se davam nos quintais das suas residências, por exemplo, próximo à cacimba, isto é, uma espécie de poço que, cavado, jorra água naturalmente. De grande utilidade, o poço é chamado de “cacimba de São Benedito”, pelo fato de estar localizada no mesmo terreno onde anteriormente fora construído o barracão no qual era realizada a festa em devoção ao Santo Padroeiro.
Sobre as práticas de devoção a São Benedito organizadas secularmente pelas lideranças da comunidade, convém destacar o posicionamento sob a ótica da crítica construtiva em relação à catolicidade do festejo, pelo fato de a coordenação do evento ser de responsabilidade exclusiva dos leigos, que durante muitas décadas enfrentaram seus antagonistas históricos, a exemplo dos padres e administradores da igreja católica pertencente ao bairro Nossa Senhora de Fátima.
Além disso, como informado pelos quilombolas, certos líderes da comunidade, tanto coordenavam as festas religiosas quanto participavam também da religiosidade de matrizes africanas. Ou seja, além da devoção a São Benedito, praticava-se também o recebimento de espíritos, de cultos aos orixás, além da frequência aos terreiros.
Ao longo de 134 anos, a festa de São Benedito se expressa historicamente como parte de uma territorialidade conquistada tradicionalmente. Em 2023, o evento contou com a participação dos indígenas Kokama, que, ao se reunirem com as lideranças da comunidade quilombola, participaram da retirada do tronco da madeira de uma árvore comumente conhecida como envira. Na comunidade indígena Parque das Tribos, posteriormente, o tronco da árvore fora descascado em frente às residências dos quilombolas, passando por um processo de secagem, para ser ornamentado com frutas regionais, como mastro votivo.
O povo Kokama, representado na pessoa da cacica Lutana Ribeiro, ao participar do festejo na comunidade do Barranco tais estratégias evidenciam o encontro histórico das identidades étnicas: indígenas e quilombolas. No interior do quilombo, estas duas forças ao participarem das etapas desse ritual religioso, tal fato, por si, já expressa a longevidade da devoção em honra ao Santo Protetor, demonstrando potencialmente a representação simbólica de resistência cultural apresentada ao longo de toda uma história.
No que tange ao festejo de São Benedito celebrado no quilombo do Barranco em Manaus, a realidade empiricamente observada evidencia a miscigenação de elementos da cultura étnica plasmada na tradição religiosa, ressignificada através do ritual ocorrido ao logo dos tempos, demonstrando, com isso, a afirmação identitária dos quilombolas.
Deste modo, as tensões estabelecidas entre a religião oficial e a religiosidade vivida pelos quilombolas sugerem o aprofundamento teórico com vistas a identificar as particularidades do cotidiano quilombola e outros aspectos intrínsecos à religiosidade, devendo os mesmos serem criteriosamente compreendidos com e a partir da realização do trabalho de campo, a ser efetivado no quilombo urbano do Barranco de São Benedito, como se verifica no subitem a seguir.
___________________
21 Citação extraída do livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, registrada no capítulo 2 intitulado: Religiosidade Popular na Colônia, p. 88.
22 A referida citação, aqui usada como epígrafe, é de autoria do teólogo americano Harvey Cox, cujo autor acredita ser uma perda não querer aprender, nem respeitar a cultura ou religião do povo (Cox, Harvey. A festa dos foliões, Ed. Vozes: Petrópolis, 1974, p. 39).
23 O termo caboclo é uma forma genérica para se referir ao morador das comunidades rurais da Amazônia.
24 O referido artigo está publicado na PLURA – Revista de Estudos da Religião. Vol. 6, n°2, 2015, p. 69-99. Dossiê “As religiões na Amazônia”.
25 A afirmação em destaque fora dita pela Sra. Hildemira Adjimam Silva, na entrevista realizada em 09 de dezembro de 2021. A quilombola é moradora da Comunidade do Barranco de São Benedito e usou a expressão em referência à Mãe de Santo, Dona Chaga, que no passado tinha um terreiro no bairro Praça 14 de Janeiro. A frase utilizada ressalta os conhecimentos da mãe de santo sobre a religiosidade de matriz africana.
26 O referido festejo em devoção a São Benedito será descrito detalhadamente na próxima seção.
27 SILVA, Hildemira Adjimam. 80 anos. Entrevista 03 [09 de Dezembro de 2021]. Entrevista realizada na residência da entrevistada, Manaus, Amazonas. Entrevista concedida a Vinícius Alves da Rosa e Rafaela Fonseca da Silva.
Continua na próxima edição…
*Vinícius Alves da Rosa é Quilombola do Morro Alto/RS, mestre, professor e teólogo, tem sua formação acadêmica pautada em uma sólida jornada de conhecimento. Sua expertise é ampliada por especializações em Metodologia do Ensino de Filosofia, em Ciências da Religião. Complementou sua trajetória com um Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação e, por fim, obteve seu título de Doutor em Ciências da Religião pela (UMESP).
Views: 3