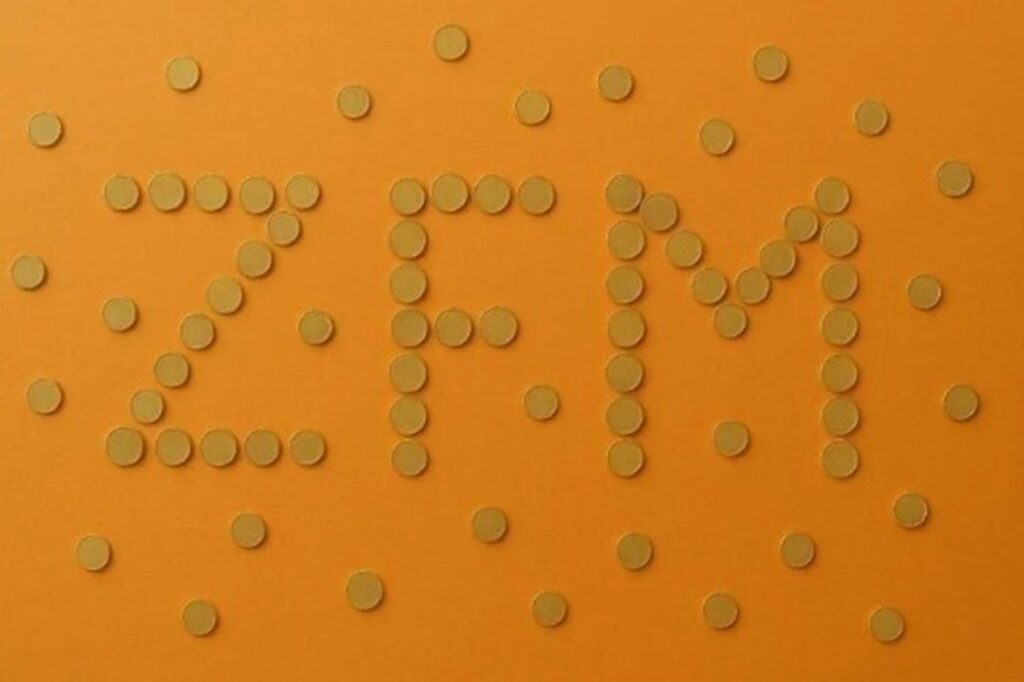A imprevidência (descuido, imprudência) e a imprevisibilidade (desmazelo, negligência) têm marcado quase que a ferro e fogo a história econômica do Amazonas e, por que não reconhecer, da Amazônia, particularmente da Zona Franca de Manaus. Por isso é tão difícil avançarmos conquistas sociais, econômicas e tecnológicas. Em consequência a região está quase sempre no mesmo lugar, reclamando da sorte e da falta de apoio governamental. Quando na verdade ações oficiais locais pecam por insuficiência de planejamento, maior objetividade e clareza em relação aos fundamentos macroeconômicos de curto, médio e longo prazo. No período áureo da borracha, que se estendeu até o início da segunda década do século passado, o seringueiro era explorado vergonhosa e impiedosamente pelo seringalista. Não apenas quanto à pesagem fraudulenta do “fábrico”, a produção de seringa na safra; mas também nos preços aviltados entre os que eram faturados no barracão e os lançados nos toscos cadernos que serviam de contas correntes. Era enfim assaltado pelo patrão de todas as formas possíveis.
Conforme salienta, a propósito, Claudio de Araújo Lima em “Coronel de Barranco”, contundente obra de 1970, a preocupação dos aviadores era forçar os seringalistas, “usando os piores artifícios, a comprar coisas desnecessárias, conservas estragadas, o exagero que os aviadores punham na multiplicidade e quantidade das mercadorias, obrigando também o seringalista a impingi-las aos indefesos trabalhadores da seringa”. Os seringueiros, por outro lado, eram proibidos de pescar mesmo “tendo ali rios, lagos e igapós onde o peixe abundava e podia ser pegado em mão, como se fazia para apanhar os melhores tambaquis”. Sanções pesadíssimas eram impostos aos infratores que cometiam o “crime” de buscar alimentos fora do barracão, mesmo em seus quintais. Nada podiam cultivar ou criar, nem mesmo caçar, que implicasse em redução de suas compras semanais, obrigatoriamente supridas pelos patrões.
Não por acaso, o que restou daqueles seringais, mesmo a despeito da brutal queda de produção da goma elástica? Praticamente nada, pois ali não se desenvolveram estruturas de produção voltada a diversidade dos recursos oferecidos pelos biomas de cada região. A economia amazônica entrou em queda vertiginosa, culminando com o fechamento das usinas beneficiadoras de biorracha entre os anos 1980 e 1990. Os traços culturais e econômicos do período áureo do látex então se apagaram em definitvo. Confirma-se assim históricos paradoxos decorrentes de enormes diferenças que separam determinadas regiões ou países ricos dos pobres. Em “Por que as Nações Fracassam”, de 2012, os professores Daron Acemoglu, do MIT, e James Robinson, de Harvard explicam o fundamento desse fenômeno.
Relacionam diversos exemplos contundentes. Num deles particulariza a cidade de Nogales, que se divide em dois polos, separados por uma cerca. Na parte norte, Nogales, Arizona, Estados Unidos, a parte rica, renda per capita de US$ 30 mil anuais, onde a maioria dos adolescentes estuda e a dos adultos concluiu o ensino médio. Ao sul da cerca, entretanto, a poucos metros de distância, encontra-se Nogales, Sonora, México, onde o contraste é extraordinário. A renda familiar média corresponde a cerca de um terço da de Nogales, Arizona, o desemprego prolifera, a infraestrutura urbana é precaríssima e a qualidade de vida é típica de terceiro mundo.
Inevitável questionar, a propósito, sobre a razão objetiva do distanciamento econômico, social e tecnológico da Zona Franca em relação a economias semelhantes. Igualmente abissal o distanciamento de Manaus face ao interior do Estado, situação agravada pela intensa migração populacional do interior verificada nas últimas cinco décadas. As chuvas e as enchentes revelam um quadro assustador de pobreza, tanto em Manaus quanto nos beiradões. Ao governo cabe identificar a origem dessas contradições e corrigir as distorções.
Views: 11