Um dos subprodutos deixados pela Ditadura que infelicitou o Brasil durante duas décadas do éculo XX foi o legado de besteiras e palhaçadas sinistras perpetradas pelos militares e seus puxa sacos. Logo nos primeiros momentos a repressão foi executada com todo o peso do ódio que os novos donos do poder tinham contra a cultura. Nem mesmo a Biblioteca Nacional ficou a salvo da sanha obscurantista. Uma intimação chegou às mãos da diretora da época, ordenando a destruição de todos os livros subversivos, que deveriam ser queimados na fornalha da instituição. Como o documento não trazia nenhuma lista de livros perigosos e alguns absurdos já haviam acontecido, como a apreensão de exemplares de “A Capital” de Eça de Queiroz e de “O Vermelho e o Negro”, de Stendhal, a diretora pediu que uma lista fosse enviada para que pudessem obedecer a ordem. Não tardou a chegar a tal lista, com a informação de que uma equipe de militares iria fazer uma inspeção para certificar o cumprimento da tarefa. As bibliotecárias fizeram um mutirão e trabalharam até altas horas da noite misturando as obras listadas com os venerandos volumes da coleção Teresa Christina, que ficava trancada numa sala desde 1924, a espera de catalogação, salvando algumas obras primas. Em Manaus, 1976, o Joaquim Marinho era superintendente da então Fundação Cultural do Amazonas, na gestão do governador Henoch Reis. Marinho teve a ideia de editar livros de baixo custo, em papel jornal, para ampliar a circulação das obras de autores amazonenses entre os leitores da cidade. Eu tinha na gaveta um romance pronto, mas não havia ainda me decidido a procurar um editor. Uma das poucas pessoas que tinha lido na o Nivaldo Santiago e vaticinara que o livro faria muito sucesso, mas achei que aquilo era bondade provocada pela amizade. A ideia do Joaquim era lançar um livro de cada gênero, já estava com originais de contos, crônicas, poesia e teatro, mas faltava um romance. Sabendo do meu livro, Joaquim Marinho me cercou de tal forma que acabei entregando os originais. E no dia 5 de setembro de 1976, à sombra do mulateiro da Praça da Polícia, sede do Clube da Madrugada, foram lançados os livros de Ediney Azancoth, Aldísio Filgueiras, Jorge Tufik e o meu romance, “Galvez, Imperador do Acre”. Eram mil exemplares, que se esgotaram em menos de duas semanas. O sucesso poderia nos ter dado muitas alegrias, mas o Conselho Estadual de Cultura considerou o livro ofensivo às tradições amazonenses e Joaquim Marinho foi sumariamente demitido do cargo. No ano seguinte, 1977, a editora Alfa&Ômega, de São Paulo, publica o meu ensaio “A Expressão Amazonense”, também com grande repercussão de crítica e de vendas. Então foi a fez da Assembleia Legislativa do Amazonas mostrar serviço ao militares, como já havia vergonhosamente feito ao cassar o mandato do deputado Arlindo Porto. Um dos sabujos da Arena, partido da Ditadura,levou ao plenário a proposta de cassação de minha naturalidade de amazonense. Faça-se justiça a dois nomes que levantaram a voz contra tamanha demonstração de abjeta subserviência e estupidez: Beth Azize e Farias de Carvalho. Esses dois protagonizaram um dos mais luminosos momentos de nossa história política enfrentando o obscurantismo vigente na época, sendo que coube à deputada Beth Azize afirmar que nenhum poder tinha a autoridade para cassar a naturalidade de amazonense. O poder discricionário podia cassar a nacionalidade e transformar um cidadão em apátrida, mas um amazonense nascia amazonense e morria amazonense, era um direito inalienável. “Galvez, Imperador do Acre” já vendeu mais de um milhão de exemplares e está entre os 50 mais importantes romances da literatura brasileira. “A Expressão Amazonense” faz parte da bibliografia de muitos cursos universitários, influenciando gerações.
Visits: 74


















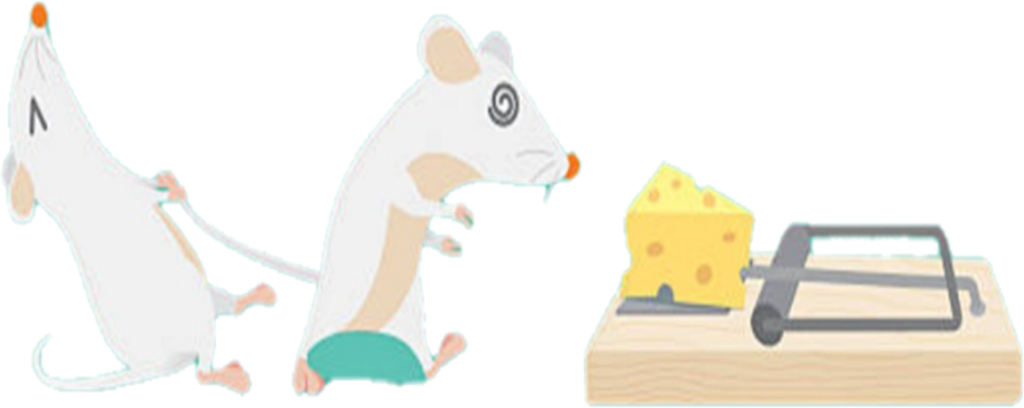


Uma resposta
A caligrafia de Deus | Francisco Gomes da Silva Tem um e-book excelente para quem quer melhorar sua caligrafia. Para quem se interessar, acesse http://www.aa2.com.br/caligrafia e saiba mais!