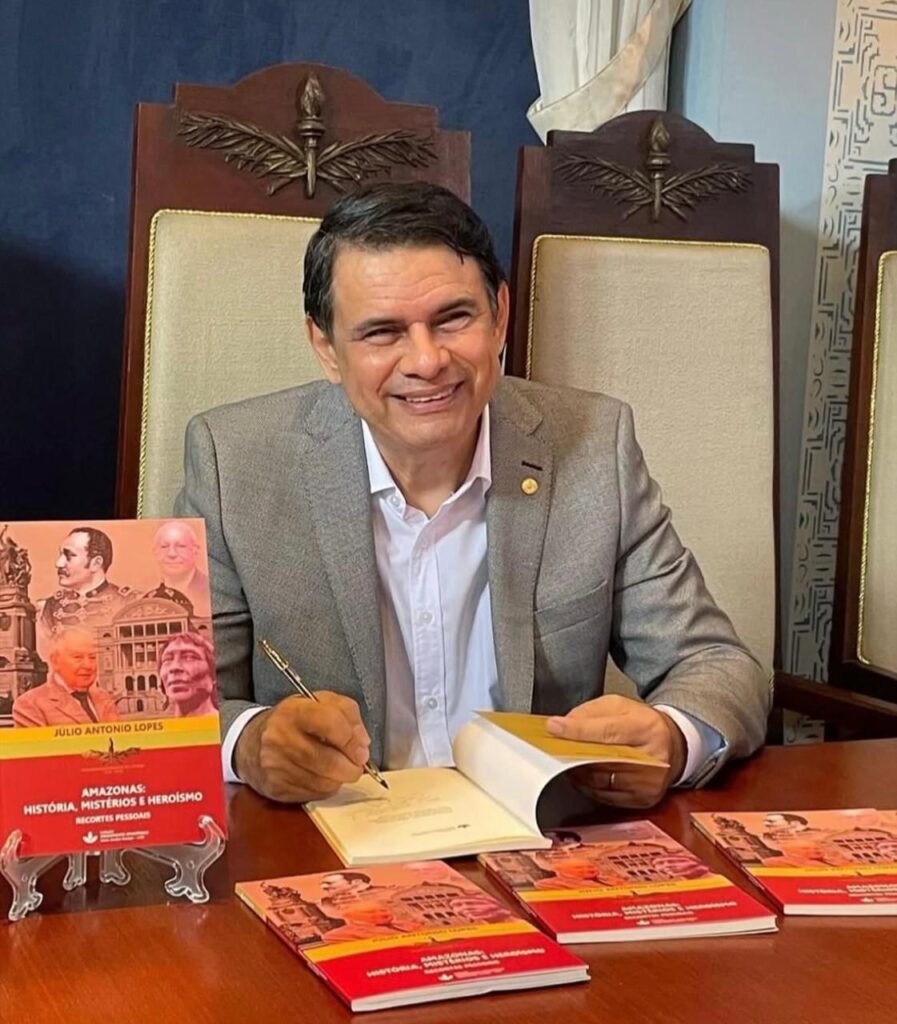Geralmente as pessoas acham que por ter nascido na Amazônia, mais precisamente em Manaus, sou uma pessoa com laços bastante estreitos com a natureza, com o mundo rural. Não é difícil de entender tal confusão, pois hoje a Amazônia é o grande sinônimo de natureza, embora natureza ameaçada. Mas ao contrário do que pensam os leitores, o fato de nascer em Manaus, cidade encravada no coração da maior floresta tropical do planeta e coração do subcontinente verde, não quer dizer nada; não sou exatamente íntimo da natureza e, muito menos, adepto das paisagens bucólicas, dos prados verdejantes com seus ruminantes a pastarem indiferentes no horizonte. Nascer em Manaus é na verdade uma desvantagem. É uma cidade que cresce em detrimento da floresta. E sempre esteve voltada para si mesma, protegida da ameaça do mundo selvagem que a cerca. A melhor explicação para tanto pavor do mundo natural talvez esteja em suas origens de forte militar português. Este foi o seu nascimento, um pequeno e medíocre forte de taipa, bem próximo à confluência dos rios Negro e Amazonas. O forte teve poucas oportunidades de entrar em ação, provavelmente os aguerridos povos indígenas da área considerassem desprezível gastar flechas e zarabatanas contra aqueles muros carcomidos pela chuva. O certo é que logo o forte desapareceu, se dissolveu em nossa alma, se incrustou no espírito dos amazonenses, e a cidade de Manaus foi se fazendo de costas para o rio e na defensiva contra a selva. Por isso, alguém pode nascer e morrer em Manaus, sem jamais tomar contato com a selva, com o rio. Você pode viver em Manaus e não saber absolutamente nada, sobre a Amazônia, seus dilemas e o seu histórico de desencontros e choques culturais. Não me canso de me surpreender com a falta de interesse da população manauara pelas coisas da Amazônia. Creio haver um esforço para destacar a malha urbana de Manaus do destino geográfico que a insere na planície amazônica e a faz capital do Inferno Verde, quer os amazonenses queiram ou não. Eu mesmo só fui me dar conta da Amazônia quando estava em São Paulo, estudando ciências sociais na USP. De um lado, acossado pelos meus colegas que demonstravam um fascínio incompreensível para mim, e queriam saber como era a minha região, e de outro lado, instigado pelas primeiras noções de antropologia que me abriam os olhos para as culturas indígenas, dei-me conta do absurdo que era a minha formação. Eu estava com 22 e jamais experimentara passar alguns dias nos rios distantes ou participara de excursão pelas redondezas ainda selvagens de Manaus. No entanto, graças às viagens do TESC (Teatro Experimental do SESC), andei muito pelo interior da Amazônia. Nas Anavilhanas, e sempre me lembrava dos europeus errantes, febris, famintos e violentos, que haviam perdido a vida naquele labirinto de ilhotas, lagos, lagunas, praias de areia finíssima e igapós sombrios com sonhos ruins. Nos anos 70 do século passado, muitas vezes escolhíamos uma das ilhas das Anavilhanas para descansar.
Amarrávamos a nossa embarcação, e ali desfrutamos de feriados como os da semana da pátria, semana santa ou o carnaval.
Pela manhã, bem cedo, pegávamos uma canoa e remávamos em silêncio, especialmente nos meses de rio cheio, que vai de abril a junho, visitando as terras alagadas com suas matas que pareciam ruínas de catedrais góticas submersas.
Quando chovia, o mundo inteiro parecia ficar ensopado, as aves e os animais calavam, desapareciam, e ficávamos tiritando de frio, encolhidos o fundo da canoa. Mas depois, quando os primeiros raios de sol e a aragem do mormaço chegavam, o céu ficava azul, de um azul intenso e renascentista, num firmamento puro como uma operação matemática, como todas as fantasias imaginadas pelas paixões e feitas para excitar os espíritos curiosos
Views: 7